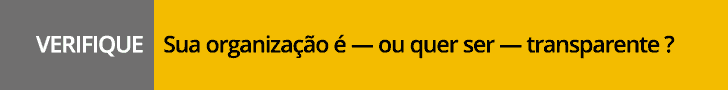A Rainha Elizabeth II, da Inglaterra, morreu há um mês e meio. Seu funeral, televisionado para o mundo inteiro, durou 10 dias e simbolizou o final de uma era. Para muitos, principalmente para o povo do Reino Unido, ela era tida como uma avó ou uma tia. Foi uma pessoa que sempre esteve lá e que, por isso, gerou um sentimento de luto muito íntimo para alguns. Aliás, dentre as diversas crises inglesas em que ministros caíam e ascendiam, a primeira coisa que se falava era: “eles passam; ela sempre está lá”.
Talvez seja difícil para nós aqui no Brasil termos esta referência, mas o monarca inglês, embora seja chefe de estado e, portanto, não governe de fato, é o símbolo da nação. Elizabeth II não mandava, mas tinha um poder imenso. Ela era a responsável por representar tudo aquilo que faz dos britânicos uma unidade nacional, por mais que as divergências entre cada um dos cidadãos sejam profundas. A figura dela era aquilo que eles eram, o que um dia já foram, mas também apontava os rumos de para onde tinham que seguir. O poder dela residia na narrativa que contava. A Rainha podia, ao mesmo tempo, encorajar seu povo a não perder a esperança durante uma das mais duras batalhas vistas em sua época, como foi a pandemia, como também podia criticar chefes autoritários de outras nações com apenas um broche. A história disseminada por ela era feita de maneira sutil, muito provavelmente porque entendia que era necessário que a mudança fosse lenta, porém constante e progressiva.
Elizabeth II era a definição mais pura daquilo que Edgar Morin chamava de Olimpiano. Estava num patamar de idealização tão alto que era impossível alcançá-la. Aqui é bom dizer que, mesmo para o mais convicto dos republicanos esta idealização existia porque, de uma forma ou de outra, ela o representava. A Rainha, então, junto com a realeza britânica, é uma celebridade. Isto porque, para Morin, seja o chefe de estado ou o artista de Hollywood, ambos fazem parte daquela cultura que é capaz de facilitar a transmissão de conhecimento por meio de signos compartilhados. Os dois simbolizam um sonho utópico que se deseja alcançar e, assim, provocam mudança.
Gosto de entender as celebridades como agentes de ruptura, como peças responsáveis pela atualização da cultura. Entendo assim por que considero ser o verdadeiro propósito delas. Afinal, como já comentei nesta coluna, de que adianta ter visibilidade se ela não tem fim social? Será apenas obtida para estimular um consumo frívolo? Se há simbolização e idealização, logo o processo de virtualização-imaginação-utopia-esperança-ação, descrito por Morin, se concretiza.
Quando a princesa Diana morreu, por exemplo, houve uma pane nesse processo. Os rituais da monarquia não estavam atualizados suficientemente para encontrar a idealização dos britânicos. O estranhamento pela bandeira que não ficou a meio mastro em sinal de luto, pelo “sumiço” da família com William e Harry, se deu por uma falta de sensibilidade em perceber que a Rainha deveria ter se atualizado. Mas ela o fez. Muitos dizem que a partir dali houve uma aproximação com o povo.
Assim como em Hollywood, a Rainha e a realeza sempre estiveram sujeitas a escândalos e a seu aparato mercantil. Parte desta idealização vem de um estímulo para o consumo de informações sobre suas vidas privadas. Dessa forma, este interesse pode ser transposto para uma vastidão de cacarecos. Como em uma franquia de filmes de super-herói, a monarquia britânica possui uma coleção bem diversa de itens que incluem de canecas e chaveiros, a camisetas com os rostos dos integrantes da família real. Assim, os tabloides tão famosos por lá são incluídos neste ciclo sem fim. De novo, é aquela ideia de que transmidialidade significa explorar à exaustão a mesma história para que dela seja obtido o máximo que se puder.
Aliás, pode-se dizer que é a única realeza que o ocidente realmente gosta de observar. Quase nunca se fala sobre o Rei da Espanha ou o da Dinamarca. A monarquia britânica foi muito bem-sucedida ao incluir os meios de comunicação de massa em seus rituais. Isto possibilitou que a Bretanha se tornasse grande não apenas por seus feitos militares e mercantis, mas também que sua história fosse contada da maneira que mais lhe convinha para o mundo inteiro. O que os EUA fizeram com o cinema e a Coreia do Sul hoje faz com a música, a Inglaterra fez consigo própria.
A habilidade de unir o Estado com a mídia desta maneira não é exclusiva desta família real. A internet proporcionou que as ligações entre celebridade e política se estreitassem em um laço muito forte. Não à toa Barack e Michele Obama viraram celebridade ainda dentro da Casa Branca, assim como seus sucessores já eram famosos há muito tempo nos EUA. O neoliberalismo conseguiu se apropriar destas ferramentas com muito mais êxito do que o campo progressista e o que vemos hoje é uma verdadeira tentativa de monarquizar a democracia. Da mesma forma, a participação de artistas em campanhas eleitorais oferece aos políticos a oportunidade de alcançar um público mais jovem, com linguagens e competências midiáticas próprias do online.
Quando Elizabeth II morreu, com ela foi junto talvez uma parcela da noção de que temos sobre a pós-Modernidade. De fato, a vida não é mais líquida como Bauman descreveu. Não há dúvidas de que já estamos numa fase tão efêmera que já está gasosa e que a rede social contribui e muito para isso. Novas linguagens se formam a todo o momento no digital. A luta geracional também se impõe. Indo mais para trás no passado ainda, é difícil para mim, uma pessoa do final de geração Y, imaginar o que era o mundo no pós-Guerra. Contraditoriamente, ela se vai ao mesmo tempo em que esta ameaça assombra a Europa pela primeira vez desde que era moça.
Parte da rejeição que existe em relação a Charles III está justamente no padrão que sua mãe alcançou. A Rainha, porque estava no imaginário de todos por muito tempo, conquistou a mesma posição de respeito que temos com familiares que nos veem crescer. Em contrapartida, se os mais velhos foram os que viram Charles se tornar um adulto, os mais novos raramente se identificam com os valores da geração de seus pais. É neste limbo em que o agora Rei se encontra. Se ele de fato conseguir ser o líder da tal revolução climática, como alguns andam dizendo, então teremos ganhado o tempo que precisamos para que um dia, quem sabe, ele seja tão admirado quanto sua antecessora. Agora, para a tristeza dos mais entusiasmados os protocolos reais não serão atualizados para permitirem que Harry e Meghan sentem no trono unindo as duas grandes “casas reais” do Ocidente, como em um season finale de ‘Game of Thrones’.
–
Imagem: Pexels / Pixabay.
–
Raquel da Cruz é mestranda do PPGCOM da Unesp e bacharela em Comunicação Social – Relações Públicas pela UEL. Concluiu sua especialização pelo GESTCORP da ECA-USP. Tem interesse em assuntos que envolvem relações públicas, celebridades, fãs e letramento transmídia.