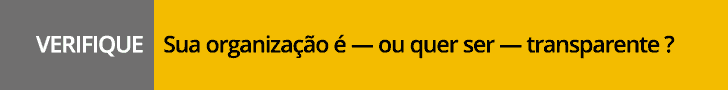‘Temer, como você conheceu a Marcela?’. Bastou essa pergunta, proferida pelo jornalista veterano Ricardo Noblat, para que o jornalismo tivesse sua morte decretada. Para o sociólogo e cientista político Igor Silva, colaborador do portal Jornalistas Livres, essa pergunta, feita em uma edição do programa Roda Viva em meio a escândalos de corrupção que abalaram a imagem do já frágil presidente, tal questionamento jamais deveria ser feito em tal contexto. Afinal, Temer era – e ainda é – uma pessoa pública, que deveria ser julgada por seus atos como tal, não por aspectos irrelevantes de sua vida privada.
O problema é que, assim como em tantas outras questões da vida política, o limiar entre o público e o privado não é o mesmo para homens e mulheres. É o que afirma Luciana Panke, professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR): a pesquisadora e autora de livros sobre a relação entre gênero e política afirma que ‘mulheres que têm algum destaque são cobradas tripla, quadruplamente, infinitas vezes em relação à sua capacidade em relação ao homem’. Isso envolve questionamentos de foro privado, o casamento (se é casada, deveria cuidar do marido; se não é, então há algo de errado com ela), os filhos (a sociedade não vê uma mulher que não é mãe em tempo integral com bons olhos), e até mesmo a aparência, envolvendo aspectos como roupas e maquiagem.
Ao pensar nisso, boa parte das pessoas logo imagina a imprensa das celebridades, que tem como foco aspectos como cirurgias plásticas, perda ou ganho de peso e até mesmo cliques de ângulos desfavoráveis. Entretanto, Panke afirma que esse tipo de julgamento está fortemente presente no âmbito político. ‘Eu entrevistei consultoras e assessoras também, que trabalham em campanhas. Essas mulheres me falaram da dificuldade que era inserir essas mulheres políticas na pauta, conseguir gerar notícia, mídia gratuita, e conseguir um posicionamento que não julgasse, por exemplo, como está o cabelo da fulana, ou se ela saiu de calça jeans para uma caminhada de campanha’. A especialista ressalta, ainda, que esse não é um problema exclusivamente brasileiro, mas que está presente em toda a América Latina.
No Brasil, a imprensa já demonstrou diversas vezes que, quando se trata de uma política e não de um político, o espectro do público é mais amplo. Um bom exemplo disso são as reportagens que comentam a evolução da aparência da ex-presidenta Dilma Rousseff ao longo do tempo, comentando fatores como troca de corte de cabelo, renovação no guarda-roupa e procedimentos estéticos. Quantas vezes um meio de comunicação dedicou recursos a análises desse tipo com homens da vida pública?
Além disso, é preciso considerar que tal traço da imprensa brasileira vem desde muito antes de uma mulher ocupar o Planalto. Durante a revelação do escândalo de lavagem de dinheiro e subsequente processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, a imprensa jamais questionou sua personalidade ou seu estado mental. ‘Ele continuava ali: postura firme, serena, ereta – e líder’, diz Panke. Já quando Dilma Rousseff foi alvo do mesmo processo, ela foi acusada de ser desequilibrada, agressiva e de até mesmo quebrar móveis em seu gabinete. O tema foi considerado tão importante pela imprensa que uma revista de circulação nacional chegou a dedicar uma capa a ele. Quantas vezes isso aconteceu com um homem? O Brasil teve um presidente que tirou a própria vida dentro do Palácio do Catete, e ele não entrou para a história como desequilibrado, mas sim como o ‘pai dos pobres’, uma das principais personalidades políticas da história do país.
Todos esses exemplos mostram uma coisa: enquanto muito mudou, nada mudou. Na prática, apesar de conquistas como o voto, o controle sobre os próprios bens e a possibilidade de trabalhar fora sem permissão, a sociedade segue vendo as mulheres como seres que devem se dedicar ao âmbito privado – ou seja, à casa e aos filhos -, enquanto a esfera pública deve ser dominada por homens. Isso é incorporado e naturalizado pelos meios de comunicação: seu poder simbólico continua sendo usado para que a estrutura social continue a mesma, julgando aspectos irrelevantes da vida privada de mulheres com papéis importantes da esfera pública. Isso viola o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que estabelece a obrigação do jornalista de ‘combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação sexual, condição física ou mental, ou de qualquer outra natureza’.
Por esse motivo, uma coluna que critica (com razão) uma pergunta de cunho pessoal feita durante um momento sensível da carreira de uma pessoa pública deveria aproveitar a ocasião para fazer um recorte de gênero – ainda mais se tratando de um meio de comunicação que se posiciona como alternativo à grande mídia, notoriamente conservadora. Além de cumprir o que dita o código de ética de sua profissão, o jornalista poderia enriquecer o seu texto, estimulando a reflexão no leitor. Para fazê-lo, seria possível aproveitar materiais como o Minimanual de Jornalismo Humanizado, editado pela ONG Think Olga, que dá dicas para a produção de conteúdo sob um viés igualitário. Do mesmo modo, é possível observar diretrizes firmadas por organismos internacionais, como a ONU.
No longo prazo, a melhor opção seria inserir tal discussão no currículo dos cursos de jornalismo, de modo que os futuros profissionais tenham um olhar crítico em relação à questão de gênero. Contudo, a pesquisa sobre esse assunto ainda é pouco estimulada na academia, e muitos dos autores usados na sala de aula têm posicionamentos machistas. Isso, porém, já é tema para outra coluna.
–
Taís Arruda tem dupla diplomação em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e Universitat de Vic (UVic) e desenvolveu pesquisas na área de gênero durante a graduação. Atualmente, é assessora de comunicação e imprensa.