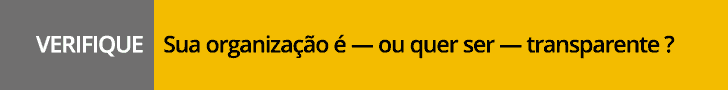O ano era 1958. Minha mãe Marisa – batizada em homenagem à cantora Marisa Gata Mansa de quem minha avó, Anna Maria, era fã –, tinha um ano de idade e vivia no Rio de Janeiro com os pais. Meu avô era pernambucano e vinha de uma família de origem negra e indígena, enquanto que a minha avó – branca de olhos verdes – era filha de imigrantes sérvios. Meus bisavós nunca aceitaram o casamento da filha com aquele “baiano preto e pobre” – como vô Helcias era chamado pela família dela – e, desde o primeiro momento, ele foi alvo de racismo e preconceito. Os efeitos dessa rejeição já haviam criado um abismo dentro da relação deles e não demoraria para que a separação acontecesse; uma separação construída nas bases do ressentimento entre duas famílias de origens tão distintas, faria com que minha mãe acabasse sendo criada pelos avós maternos em São Paulo, longe da convivência diária com os seus pais. Da mãe ela recebia visitas aos domingos e, do pai, a pensão e uma carta ou outra; as visitas dele eram raras e, pai e filha, se encontrariam não mais do que uma dúzia de vezes na vida. Meus avós morreram ainda na minha infância – ela de câncer e ele da combinação fatal de enfisema com depressão. Feliz mesmo nenhum dos dois parece ter sido e, sempre que penso na história deles, me pergunto quantos lares se desestruturaram em decorrência do racismo e do preconceito.
O ano era 1958. No mês de julho, a cantora Elizeth Cardoso lançaria um disco que mudaria para sempre a história da música mundial: com “Canção do amor demais” essa mulher negra seria responsável por lançar o disco considerado o marco inicial de um dos movimentos mais importantes de todos os tempos. Uma mulher que vencera as barreiras do preconceito de gênero e de raça para chegar aonde chegou, na época Elizeth já era uma cantora consagrada que, naquele disco em especial, dividia espaço com três figuras praticamente desconhecidas do público: João Gilberto – que vinha tentando a sorte no Rio de Janeiro fazia alguns anos –, Tom Jobim – que ainda era apenas um músico da noite que vivia “apostando corrida com o aluguel”, como ele mesmo dizia – e o poeta Vinicius de Moraes – que na época era diplomata no Itamaraty. Até hoje quando se fala no disco, exalta-se a sua importância por ter reunido essa tríade masculina, deixando a importância da cantora em segundo plano. É preciso lembrar que, naquele momento, a mulher era frequentemente reduzida à figura limitada de “musa inspiradora” dos homens, alguém a quem a chance de ocupar o lugar de protagonista não era concedida. Assim, figuras importantíssimas como Elizeth – que lançou o movimento – ou Nara Leão – que, por sua inteligência e talento contribuiu tanto não só com a Bossa Nova, mas com toda a música brasileira – acabaram tendo a sua importância fatalmente reduzida e desvalorizada; a própria Nara, em muitos textos é citada apenas como alguém que “emprestava o apartamento” para as famosas reuniões da Bossa Nova.
Comportamento comum em diferentes momentos da nossa história, aqui cabe lembrar que, pouco antes de morrer, John Lennon assumiu que, quando da composição de “Imagine”, não creditou Yoko Ono como coautora da música devido ao seu comportamento machista na época; exatamente o mesmo tipo de comportamento que fez a importância de Elizeth ser tão desvalorizada quando o assunto é Bossa Nova.
O ano era 1958. E, quando falamos em “marco inicial da Bossa Nova”, fundamental é mesmo fazer um adendo nesse ponto da história: naquele ano de 1958 – antes mesmo de receber este nome ou do disco da Elizeth ser gravado – a Bossa Nova já existia. Três anos antes de “Canção do amor demais”, o pianista e compositor Johnny Alf – negro, homossexual e filho de uma empregada doméstica – já havia iniciado o que viria a ser a Bossa Nova com o lançamento de um disco 78 rpm que trazia duas composições de sua autoria: de um lado “O tempo e o vento”, do outro “Rapaz de bem” – esta segunda, inspiração de Tom Jobim para compor “Desafinado”. Assim, quando a Bossa Nova foi oficialmente lançada, já fazia praticamente uma década que Johnny tocava na noite carioca uma música que – por conta da sua sonoridade tão diferente da música que se fazia na época – despertava o interesse e a curiosidade dos tantos compositores e instrumentistas que iam até o bar do Hotel Plaza em Copacabana somente para ouvir aquelas composições com melodias e harmonias revolucionárias. Noite após noite, muitos daqueles que entrariam para a história como “pais da Bossa Nova” se reuniam para ouvir e se alimentar da música daquele a quem Tom Jobim apelidou “Genialf”. Sem o reconhecimento que lhe seria devido como pai biológico do movimento, Johnny Alf levou uma vida discreta e, sem herdeiros ou familiares próximos, nos seus últimos anos de vida – em decorrência do tratamento para um câncer de próstata – viveu em uma casa de repouso na cidade de Santo André. Ele passaria os seus últimos dias tocando para acompanhar o coral do Hospital Estadual Mario Covas – aqui pertinho de casa – onde se tratou até o seu falecimento em 2012.
O ano era 1958. Treze anos haviam se passado desde o final da Segunda Guerra e, consequentemente, da fundação da ONU. A Declaração Universal dos Direitos Humanos – documento responsável por começar a fazer o mundo se voltar para a necessidade fundamental de proteção aos Direitos Humanos e que pavimentaria o caminho das mudanças fundamentais que começariam a acontecer na vida de mulheres, homossexuais, negros e demais minorias a partir de então – completava dez anos de existência. Mesmo assim, em muitos lugares a segregação racial ainda era amparada por Lei – ou pela ausência dela – e em outros tantos, a homossexualidade era legalmente proibida, assim como às mulheres era vedado exercer uma série de atividades e direitos. Ainda levaria seis anos para que a Lei de Direitos Civis – que proibiria a discriminação racial nos Estados Unidos – fosse assinada (1964), nove anos para que a Inglaterra deixasse de considerar a homossexualidade um crime (1967) e uma década inteira para que a semente do feminismo eclodisse e ganhasse as ruas em um movimento pelos direitos da mulher que começou em Paris e ganhou o mundo, mudando para sempre os rumos da nossa história (1968). O mundo era palco de um intenso processo de transformação, mas ainda seria necessário que mais algumas décadas se passassem para que começássemos a vislumbrar os resultados dessas lutas e, principalmente, para que os direitos pudessem começar a ser exercidos com uma certa igualdade – não por todos, mas por um número significativamente crescente.
Entender a realidade específica daquela época é, também, compreender o porquê Johnny Alf não teve o merecido reconhecimento quando a Bossa Nova espalhou-se pelos quatro cantos do mundo. Com o rock nos Estados Unidos ocorreu algo bastante similar, pois aquilo que é creditado como tendo sido lançado por artistas como Elvis Presley na década de 1950, na verdade já vinha sendo feito desde a década de 1930 pela Sister Rosetta Tharpe – mulher, negra e mãe biológica do rock’n’roll. Portanto, no contexto em que o rock e a Bossa Nova surgiram, o espaço ocupado pela mulher e pelo negro era extremamente limitado; precisamos nos lembrar que, nessa mesma época, o próprio Nat King Cole – apesar de todo o sucesso que fazia – foi boicotado no bairro onde vivia, pois seus vizinhos não queriam viver na mesma vizinhança de uma família negra; ao tocar em grandes hotéis e cassinos, o cantor era proibido de transitar, jantar ou se hospedar no local onde ele mesmo era a atração principal. A entrada era feita pela cozinha ou área de serviço e, ao final do show, ele se dirigia obrigatoriamente a algum hotel específico para negros – como retratado no aclamado filme “Greenbook” –, uma imposição que seria abandonada somente em 1965.
E foi assim que a Bossa Nova – uma música tão negra quanto o rock’n’roll da Sister Rosetta, e tão negra quanto o blues e o jazz – foi embranquecida, ficando gravada no nosso imaginário como um retrato daquela juventude branca de classe média-alta tocando violão nas areias da Zona Sul, com os seus homens compondo para as suas musas embalados pela brisa salgada de uma cidade que, desde o princípio, é tão maravilhosa quanto desigual. Nessa Cidade Maravilhosa – onde os extremos sempre conviveram lado a lado, onde favelas se formaram a partir dos quilombos do período pré-abolição –, até hoje vemos que há uma insistência em tentar jogar toda a desigualdade para debaixo do tapete, exportando-se assim um lugar que não existe, numa tentativa de perpetuar-se aquela imagem da cidade alienada e estereotipada pintada pela Disney nos desenhos do Zé Carioca.
Mas, o tempo passa e o ano agora é 2021. Anitta lança “Girl from Rio” – uma versão repaginada da tradicional “Garota de Ipanema” – evidenciando um outro lado menos exaltado dessa “Cidade Maravilhosa” e das suas mulheres: aquelas que não se parecem com modelos, que vivem uma realidade completamente diferente daquela vivida nas praias da Zona Sul, que têm vários irmãos filhos de um mesmo pai com diferentes mães, que não foram criadas nas areias da praia, mas sim no alto dos morros. Utilizando a sua popularidade mundial, com essa música a cantora convida o mundo a olhar para a mulher que ela é – e que tantas outras também são; convida o mundo inteiro a olhar para esse Brasil real e desigual, onde existem milhões – de pessoas que precisam e merecem ser ouvidas, independentemente das suas origens ou da cor de sua pele. Em “Girl from Rio”, Anitta reescreve a história da mulher – e, consequentemente, da música brasileira – deslocando-a do papel de musa para o papel de protagonista da sua própria história – assim como ela mesma é protagonista da sua vida e de uma carreira muito bem-sucedida.
Somos herdeiros de uma história que foi escrita excluindo mulheres, negros e homossexuais, reduzindo e invalidando a importância das suas contribuições ao longo do tempo. A grande missão do escritor, biógrafo, jornalista, artista e do comunicador em geral, é reescrever essas histórias dando o lugar de pertencimento a quem um dia foi excluído, dando a chance para que as minorias – minorias em termos de direitos, mas não em número de pessoas – ocupem o lugar do protagonismo que lhes é de direito. Nesse contexto, esse Rio da Anitta – que valoriza e evidencia uma grande parcela da população acostumada a ser discriminada, violentada e esquecida – faz crescer em mim a esperança em uma realidade cada vez mais justa e igualitária. Nesse Rio, deposito a minha esperança de que, quando novas bossas surgirem, os Johnny Alfs do futuro possam ser grandes estrelas e receber o devido reconhecimento, que as Elizeths sejam grandes símbolos de empoderamento e emancipação. Nesse Rio, deposito também a minha esperança de que os casais de diferentes origens e cores – como foram os meus avós – possam viver as mais lindas histórias de amor e caminhar de mãos dadas pelas calçadas do mundo sem que sejam perseguidos pelos fantasmas do racismo e do preconceito.
–
Bruna Ramos da Fonte é biógrafa, escritora, fotógrafa ensaísta, professora e palestrante. Especialista em Leitura e Produção Textual com Aperfeiçoamento em Psicanálise Clínica, é criadora da sua própria metodologia no campo da Escrita Terapêutica. É autora de diversos títulos, incluindo “Escrita Terapêutica: um caminho para a cura interior” (Letramento, 2021) e as biografias de Sidney Magal e Roberto Menescal. Visite: www.brfonte.com