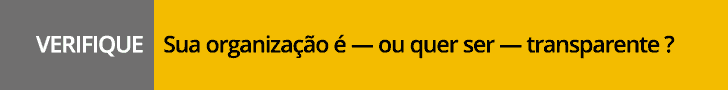‘Use camisinha’. ‘Fumar é prejudicial à saúde’. ‘Elimine focos do mosquito da Dengue’. ‘Se beber, não dirija’.
Não é de agora que a comunicação pública protagoniza o papel social de orientar a população em momentos de crise. Nos exemplos citados, assim como agora, o desafio é mais mobilizar que, especialmente, informar.
É que, naturalmente, desde o início da pandemia, depende essencialmente dos outros o uso de máscara, a lavagem das mãos, entre outras medidas sanitárias que evitam a disseminação do Covid-19. E, convenhamos, educar adultos que deveriam assumir a autorresponsabilidade do cuidado consigo e com a contaminação do próximo é tarefa que vai além dessa seara.
A saída em outras campanhas que igualmente dependem de atitudes coletivas tem sido repetir o discurso insistentemente, periódica ou sazonalmente (conforme o assunto). Torna-se uma constante o investimento em campanhas visando à criação de uma cultura da prevenção e a consequente redução de casos de doenças e/ou acidentes.
Na pandemia do novo Coronavírus, no entanto, esse desafio me parece ainda maior. É que o tom é tão importante quanto a orientação do que fazer em si. Informar sem alarmar: está aí uma tarefa muito delicada. Com um detalhe bem importante: as recomendações devem acompanhar o avanço da doença no país e no mundo. Quadro dinâmico, portanto.
Microfones e holofotes a postos
Remetendo ao início de todo esse contexto, o uso do termo ‘gripe comum’ associado à pandemia chamou a minha atenção desde meu primeiro contato com os comunicados oficiais. Coincidência ou não, na ocasião observei mais pessoas que consideravam a divulgação sobre os cuidados mero exagero (percepção apenas empírica, baseada em meu círculo de convivência). Com o passar do tempo, o termo foi sendo substituído por ‘Covid-19’ e ‘Coronavírus’, o que ainda persiste.
Imagino, claro, que não seja tarefa fácil desenvolver um discurso direcionado a milhões de pessoas, assinado por uma autoridade de saúde. Especialmente quando não se tem a dimensão exata da doença e há mais perguntas que respostas, mesmo entre especialistas.
Mas, sem dúvida, esse rigor tem, em parte, o poder de tranquilizar ou provocar reações imprevisíveis na população. De depressão à banalização.
Qualquer semelhança, mera coincidência
Não é à toa que observo com curiosidade a forma como as instituições públicas escolhem se comunicar com o público. Já estive do outro lado mais de uma vez e aprendo com as experiências alheias procurando me imaginar naquele papel. Por isso sou absolutamente empática com quem se debruça diante desse desafio (ainda mais agora, quando temos tantas crises em uma).
Das experiências que vivenciei, a que mais se aproxima do atual contexto ocorreu em um hospital público. Mais precisamente durante o surto de H1N1 que, aliás, foi apelidado inicialmente de ‘gripe suína’ (só um parênteses). Todos compartilhavam medo e incerteza: a população, os funcionários e, naturalmente, os próprios profissionais de saúde. Antes de fornecer à imprensa o número de casos e sua evolução cuidando, especialmente, da privacidade dos pacientes, era preciso escolher a estratégia adotada para alimentar os veículos com os dados diariamente.
Decisões cirúrgicas que salvam vidas
Um infectologista, então, foi convidado para ser o porta-voz técnico da instituição durante as (frequentes) coletivas de imprensa. Era um estudioso do assunto e já havia treinado equipes para o manejo de pacientes, caso houvesse vítimas da doença no estado. Mas após a terceira coletiva, outro médico da mesma especialidade foi chamado a assumir o posto. Ele era tão capacitado e experiente quanto, mas tinha uma peculiaridade importante: a sensibilidade e a postura de um líder diante de uma crise.
Explico: ele sabia da gravidade da doença e cumpria o ofício de informar, com transparência, qual era o cenário. Mas, ao mesmo tempo, tinha o cuidado e o feeling de não antecipar previsões que poderiam ser precoces naquele momento e que, eventualmente, causariam pânico (e não atitude preventiva) na população. Como um bom cientista, optou pela objetividade baseada em evidências sem perder, contudo, a clareza que uma comunicação direcionada majoritariamente a leigos exige. Sintonia fina.
Esse episódio, aliás, me faz lembrar do filme ‘Guerra dos Mundos’, de Orson Welles, e o quanto as palavras podem, até mesmo, ter o potencial de desencadear tragédias. Entendidos entenderão. A decisão de trocar o interlocutor no auge da crise foi de uma das líderes que tive em minha vida e a quem sou muito grata. Uma pessoa que unia sabedoria de quem viu muito da vida com uma postura humana (e rápida) diante de desafios gigantes. Aprendi muito com essa atitude, que fez toda a diferença naquele episódio. A instituição seguiu sendo fonte referendada, entendendo que seu papel ali era fornecer dados oficiais com seriedade, ética e zelo pela apuração e checagem dos dados.
Hoje os tempos são outros, claro. Insegurança jurídica, fake news e instabilidade na imagem de algumas instituições públicas tiram da conta da comunicação pública o peso de absorver toda a crise sozinha. É que o problema não está apenas na doença, mas polvilhado em vários episódios, que só aumentam a temperatura do caldeirão. Por isso me solidarizo com os colegas que hoje trabalham nesse segmento e têm feito, tecnicamente, o melhor que lhes cabe.
–
Adriana Linhares possui sólida experiência em comunicação corporativa construída ao longo dos últimos 20 anos nos setores de educação, saúde, bem-estar, terceiro setor e indústria. Jornalista e especialista em gestão estratégica, atua como produtora de conteúdo e copywriter em projetos de marketing de conteúdo e marketing inbound.