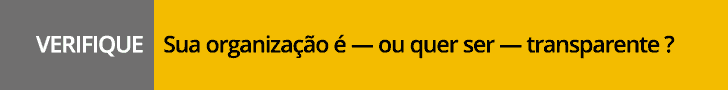Meu nome é Machado. Não, não vai logo pensando que é Machado de Assis! Esse fazia boa literatura, eu não. Meu negócio? Contar fatos. Apenas isso.
Para os mais íntimos, Machado Um, pois tenho um irmão gêmeo, univitelino. Igualzinho, igualzinho a mim, o Dois.
Meu irmão era bonito, mas não tinha o meu charme. Bem, o fato é que eu precisava encontrar uma forma de me sentir especial nessa vida. Não pense que é fácil saber que existe uma cópia de você andando por aí, fazendo sabe-se lá o quê.
Então, o meu objetivo, desde pequeno, sempre foi fazer qualquer coisa para me sobressair dos outros. Tratava de ser o mais inteligente, o mais carinhoso, o mais sedutor, o queridinho da mamãe, e assim por diante… Queria ser jornalista, jamais pensei ser qualquer outra coisa. Nasci jornalista, não tinha jeito. Era isso ou nada. Preferi isso.
Criança, vendia doces. Mas comecei mesmo a minha vida profissional como guarda-livros e aprendiz de tipógrafo. Era o que a maioria fazia quando não se tinha dinheiro para estudar Direito. Queria ser jornalista, o caminho não poderia ser outro. Minha caligrafia não era grande coisa, alguns até tinham certa dificuldade de decifrar o que eu escrevia, inclusive eu. Além do português, tinha certa facilidade para o inglês, alemão e francês.
Mas sabe o que era mais importante? Eu, Machado, tinha muitos relacionamentos na Corte. Jornalista sem fonte, como se denomina hoje, morre de fome. “Hum… não dá em nada!”. Pode até ser o mais inteligente, escrever muito bem, falar francês e inglês, mas se não tiver fontes… Hum… Meu avô, que também era jornalista, dizia isso com frequência. E ele tinha razão.
Eu, bem, tinha o maior orgulho de fazer parte dos mais de 300 colegas que circulavam na cidade, em 1889. E o que importa nessa profissão, aprendi também com meu avô, é circular livremente nos ambientes. Sabe como é… jornalista é como juiz. Tem que ser imparcial. Logo, nada acontecia por aqui que eu não soubesse com antecedência.
Mas vou deixar de lado a minha vida pessoal e os meus problemas existenciais. Essas coisas chatas que a gente carrega uma vida toda, sem saber qual destino dar para elas. E vou contar como eu vivia no Rio de Janeiro.
Na estreita Rua do Ouvidor. E era lá que tudo acontecia. O feed de notícias da época. Ali, nasciam os boatos que, instantaneamente, percorriam os confins da capital do Brasil. Era onde também se cultivava o negócio fino das jóias e das ideias, estas últimas distribuídas entre livrarias e cafés. Ah… era também o centro de compras da moda vinda de Paris, o shopping center dos encontros na capital do Império.
Havia ainda as tipografias e as cervejarias. A Rua do Ouvidor era impregnada de um cheiro de Leipzig, uma combinação de tinta de impressão e do lúpulo. Nas confeitarias, bem, havia ainda o comércio de olhares e namoros, que se iniciavam, a todo instante, entre as frequentes compras e os fervorosos debates políticos.
Mas o fato importante da minha vida é que eu gostava de beber umas e outras. E não bebia pouco. E naquela noite passei dos limites. Na verdade, passei mal.
Naquele dia acordei com amarelamento da pele e dos olhos, e um aumento da minha circunferência abdominal, e muita, muita dor de cabeça. Levei um susto quando percebi que não estava em casa, e ao meu lado dormia uma senhorita que jamais tinha visto na vida.
O corpo desnudo abraçava o travesseiro entre as pernas. Os longos cabelos loiros, quase ruivos, cobriam parte de seus seios miúdos, perfeitos. Cabiam perfeitamente na palma das minhas mãos.
O médico já havia me advertido na última consulta. “Pare com a bebida, Machado! Ela vai lhe levar à morte”. “Não posso, não posso, doutor!”.
Esse cara aí, o doutor, bem, o que ele queria mesmo era tirar a minha única alegria nessa vida, razão pela qual decidi, ali mesmo, não voltar mais ao consultório dele. Prefiro morrer bebendo a ter de viver uma vida sem graça.
Eu vinha com uma sensação estranha, um cansaço além da conta, sem vontade de sair de casa tampouco com ânimo para trabalhar. Aproveitei a semana para descansar. Arrumei uma desculpa idiota, daquelas que a gente inventa para o chefe quando se tem vontade de fazer nada. E foi o que eu fiz. Não fui trabalhar, descansei.
Mas a ideia da morte não saia da minha cabeça, desde que meu irmão tinha morrido de tristeza. Nos últimos anos, não se levantava mais da cama, pobrezinho, e tinha preguiça até de se alimentar… tuberculose. Morreu sem saber o que era República ou Monarquia. No mundo dele, e de tantos outros, nada disso era importante.
Tristeza não me parece ser uma causa válida para ser registrada no atestado de óbito, porém, um olhar perdido e uma tez entristecida alimentam um grande pessimismo. E foi assim que meu irmão se despediu da vida, triste.
–
Maeve Phaira, jornalista, advogada, autora do livro Outono em Copacabana.
–
Imagem: Marc Ferrez.