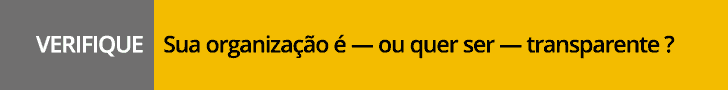Sou filha de uma tradutora, o que fez com que eu tivesse um contato profundo não somente com outros idiomas, mas, principalmente, com o meu próprio idioma. Vivência esta que me fez compreender logo cedo que não há relação mais íntima na vida de um ser humano do que aquela que ele mantém com a sua língua materna. Isto porque é através dela que ele será capaz de se expressar, criando elos entre o seu próprio mundo interior e o mundo exterior no qual está inserido; porque é a forma através da qual atribui sentido às coisas, exerce a sua identidade e confere significado à sua existência – seja no âmbito individual ou coletivo – e, principalmente, porque cada idioma carrega em si todo o peso da bagagem cultural, histórica e ancestral do seu povo, sendo então o elemento chave para a perpetuação dessa cultura.
Quantos ensinamentos, sonhos e possibilidades morrem cada vez que morre uma língua? E é exatamente por isso que, no processo de dominação, quase que imediatamente retira-se o direito ao exercício da língua materna, pois este é o caminho mais rápido e fácil para se anular os mais diversos aspectos que compõem a identidade cultural de um povo: sem a língua deixam de fazer sentido os mitos, ritos, rituais e todos os elementos que conferem unicidade àquele agrupamento de indivíduos.
Quando os portugueses aportaram no continente americano, estima-se que no território que hoje compreende o Brasil falava-se mais de mil idiomas. Com o passar dos anos – em meados do século XVIII –, o processo de dominação e anulação da cultura indígena culminaria na proibição total da prática dos idiomas falados pelos nativos, instituindo-se a língua portuguesa como o único idioma permitido na Colônia.
Este processo tem um nome pouco conhecido: ele se chama glotocídio e compreende a marginalização e a proibição do exercício de fala de um determinado idioma – substituindo-o por outro – com o intuito de viabilizar o desaparecimento não somente daquela língua, mas de toda a cultura a ela atrelada, até que aquele povo se extinga e seja completamente absorvido pela cultura dominante. Considerando-se a ausência da escrita nas culturas indígenas, naquela época a sobrevivência de cada idioma – e das suas respectivas culturas – dependia exclusivamente da transmissão oral; como não havia nenhuma outra maneira de salvaguardar estes conhecimentos, ao deixarem de ser praticadas, imediatamente inúmeras línguas foram extintas causando um inestimável prejuízo cultural à humanidade.
Apesar de todos os esforços dispendidos pelos colonizadores, diversos povos sobreviveram aos ataques e massacres sofridos ao longo dos séculos. Mas, apesar de todo o tempo transcorrido, as problemáticas persistem: esse passado genocida e gloticida deixou marcas profundas na nossa cultura e, tantos anos depois, o que vemos é a sociedade reproduzindo fielmente o papel dos colonizadores em atitudes de subjugação e preconceito; atitudes estas que originam inúmeros desafios vividos pelos indígenas nos dias de hoje. Enquanto os povos remanescentes seguem em busca da preservação das suas culturas, o tempo inteiro precisam enfrentar questões que desde o primeiro instante os perseguem, desafiando diariamente a manutenção da sua sobrevivência no mundo contemporâneo. Infelizmente, seguimos reproduzindo e transmitindo visões estereotipadas, herdadas dos discursos construídos pelos colonizadores com o intuito de anular as culturas dos povos nativos. Perpetuamos um pensamento que atrapalha e dificulta a preservação e a transmissão de toda a riqueza cultural que estes povos têm a compartilhar com o mundo, além de violar os seus direitos enquanto seres humanos.
Na minha vivência com indígenas da etnia Pataxó no sul da Bahia, pude acompanhar de perto os reflexos desses séculos de marginalização expressos no dia a dia de uma aldeia. Nas diversas ocasiões em que havia visitas de turistas, foram muitas as vezes em que presenciei atitudes e discursos maldosos e preconceituosos, principalmente no final da visita – quando todos tinham a oportunidade de conhecer e adquirir o artesanato produzido por eles –, momento em que muitos manifestavam algum tipo de espanto ao verificarem a presença de celulares e máquinas de cartão nas mãos dos indígenas. Eram frequentes também os comentários relacionados ao fato de alguns vestirem roupas comuns – como jeans e camiseta – ou de algumas mulheres indígenas terem as unhas pintadas nas cores da moda. Foram muitas as vezes em que ouvi pessoas dizerem que aqueles não eram “indígenas de verdade” porque “indígena de verdade não usa celular, não tem televisão e não anda de carro”. E é aí que eu pergunto a você: um japonês perde o direito de exercer os seus costumes ancestrais ou de cultuar os seus antepassados no exato momento em que adquire um smartphone? Um holandês renuncia à sua bagagem cultural quando decide não mais andar de bicicleta e adquire um carro? Um escocês perde o direito à sua nacionalidade quando escolhe vestir um jeans ao invés do kilt? Pode ser que você esteja achando estes exemplos absurdos, mas são apenas referências que faço com base nos questionamentos dos quais os indígenas são alvo; se você buscar na internet, ficará espantado com o número de páginas onde aparecem dúvidas como: “indígenas deixam de ser indígenas quando usam celular ou assistem televisão? Quando andam de carro? Quando vestem calças jeans?”
Houve um tempo em que os indígenas – quando não estavam sendo mortos, escravizados ou violentados de alguma maneira – eram expostos como animais, com o intuito de divertir e entreter o público com a sua aparência “exótica”. Infelizmente, o que vemos ainda hoje é a perpetuação de um pensamento que emana de uma classe de pessoas que parece querer exigir que o indígena permaneça parado no tempo, à disposição e “em exposição”. São pessoas que ainda compactuam com a visão opressiva do colonizador sem se dar conta do tamanho da violação que cometem quando manifestam o desejo de que determinados povos permaneçam parados no tempo, vivendo de forma alienada e isolada, para que possam servir de atração para aqueles que se julgam cultural ou intelectualmente “superiores”. Esse tipo de discurso faz com que muitos indígenas acabem se envergonhando das suas origens – e até mesmo rejeitando a sua própria cultura –, pois em muitos casos tais comportamentos acabam por se tornar verdadeiros obstáculos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Séculos após o descobrimento, o que vemos é uma série de povos que lutam diariamente pela sua sobrevivência em um contexto que – desde a chegada dos colonizadores – não tem sido nada gentil com pessoas que não merecem outra coisa que não um profundo respeito por tudo aquilo que representam e cultivam. E é por esta razão que eu pergunto: por que ainda estamos discutindo o direito indígena à inclusão digital, se este deveria ser um direito universal? Para mim, parece absurdo que este ainda seja um assunto que precisa estar em pauta, porque ele configura um direito que não deveria ter que ser discutido; mas para que o indígena possa ter pleno acesso à tecnologia – e desfrutar dos avanços intrínsecos do seu tempo – sem ser alvo de comentários preconceituosos, é necessário que esse tema ainda siga sendo debatido. Somente assim, se criará o cenário fundamental para a construção de um processo de conscientização, respeito e valorização dos povos e culturas originais.
Para preservar as nossas tradições não é preciso renunciar às nossas origens, pois a cultura e a sabedoria ancestral que carregamos conosco são bens imateriais e independem do contexto tecnológico no qual estamos inseridas. Além do mais, a possibilidade de preservação da memória e da cultura caminham lado a lado com o desenvolvimento tecnológico, já que a tecnologia que temos hoje poderá registrar e salvar diversos povos, idiomas e culturas da extinção – nos dando então a certeza de que é possível escrever uma história diferente daquela que passou, pois hoje a internet já é o principal centro de preservação histórica e linguística ao qual temos acesso.
Todo indígena tem pleno direito de acesso à informação, de exercer a sua cultura livremente e a se comunicar, compartilhando com o mundo os seus ensinamentos, ideias e pensamentos. Todo indígena tem o direito de ouvir e ser ouvido, independentemente da forma – e da plataforma – que decidir utilizar para isso. Até que chegue o momento – e ele há de chegar – em que não haverá mais a necessidade de defendermos direitos que a eles deveriam ser garantidos pelo simples fato de serem seres humanos e guardiões de uma riqueza cultural tão importante e fundamental, merecedora de todo o respeito que naturalmente dedicamos com exclusividade às culturas dos colonizadores. Enquanto isso, tenho feito aulas de língua Macuxi pelo Zoom com uma professora indígena de Roraima; afinal, é preciso aproveitar as possibilidades que a tecnologia pode oferecer para aproximar pessoas que, de outra maneira, poderiam jamais se cruzar nas incontáveis esquinas da vida.
–
Sobre a imagem de chamada – produzida pela autora: “O preconceito sofrido por cultivarem hábitos como pintar as unhas ainda é uma realidade vivida pelos indígenas nos dias de hoje. Na fotografia, os pés de uma mulher Pataxó”.
–
Bruna Ramos da Fonte é biógrafa, escritora, fotógrafa ensaísta, professora e palestrante. Especialista em Leitura e Produção Textual com Aperfeiçoamento em Psicanálise Clínica, é criadora da sua própria metodologia no campo da Escrita Terapêutica. É autora de diversos títulos, incluindo “Escrita Terapêutica: um caminho para a cura interior” (Letramento, 2021) e as biografias de Sidney Magal e Roberto Menescal. Visite: www.brfonte.com