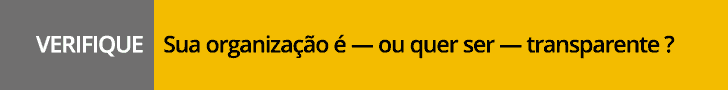Uma situação, às vezes, comum em qualquer redação de um veículo jornalístico, o erro jornalístico, é extremamente incômoda para o receptor e para o emissor da informação. Muitos anos atrás a Associação Nacional dos Jornais – ANJ – calculou que a média nacional dos jornais era de cinco erros por edição. Vale frisar que estas falhas podem ocorrer por dois caminhos naturais, o da gramática normativa ou expositiva, ou pela apuração e relato incorretos. Dificilmente, porém, elas ocorrem juntas.
Ainda que seja altamente examinado e combatido, o erro na imprensa ou comunicação jornalística lamentavelmente sempre estará no cotidiano de portais, sites, jornais, revistas, rádios, TVs e outras mídias noticiosas que existam ou venham a existir. Isso pelo menos até que não se crie um supercomputador infalível no mundo da inteligência artificial e versado nas “artes literárias e jornalísticas”. A razão nos dias de hoje é simples como já descreveu o filósofo Friedrich Nietzsche: “Entre as condições de vida poderia estar o erro”, e que os comuns avacalharam e foram direto ao ponto sintetizando na frase “Errar é humano”.
Um problema que se agrega ao fato é que praticamente todo leitor, ouvinte, telespectador, internauta, sempre recebem a mensagem sem antes se lembrar que ela pode conter erros de diversas dimensões. Contudo, tais incorreções nunca, com certeza, são deliberadas ou propositais se o veículo for ético e sério, como tem sido o caso da esmagadora maioria dos veículos de imprensa no Brasil, seja ele de massa ou especializado. Para uma publicação sobreviver ao longo dos anos, umas das exigências não é sua tecnologia, seus recursos humanos ou infraestrutura, mas, especialmente sua credibilidade e reputação.
Uma atitude importante, de acordo com a Associação Nacional dos Jornais, é reconhecer o erro, quer seja apontado por leitores ou por equipes internas. E, conforme sua cartilha de autorregulamentação, “a correção do erro deve ser feita por meio de publicação no próprio jornal tão logo seja identificado, preferencialmente em espaço dedicado à correção de erros, de forma que o leitor reconheça facilmente a seção. Em casos de erros muito graves, a correção pode ser feita na capa ou em outro espaço nobre, com identificação clara do problema”. É recomendado ainda pela entidade a identificação clara do erro cometido, com data, página e outros dados do texto que deram origem ao erro. O assunto para alguns é tão sério que virou uma seção permanente, como é caso do “Erramos” da Folha de S. Paulo.
A falha no jornalismo está intimamente ligada ao binômio prazo/fechamento da edição. Esses dois elementos são os grandes adversários do profissional de imprensa e por isso a maior parte dos equívocos acontece pela pressão dos minutos e segundos. Mas há também desacertos ligados à má formação do profissional no conhecimento da língua e no aspecto cultural, por desconhecer pontos que deveriam ser básicos para o desenvolvimento de uma matéria. A fonte também pode contribuir quando ela tem interesses escusos, mentindo ou ludibriando o repórter por má fé, visando seus interesses particulares.
Um grande paradoxo do jornalismo pós-moderno para mitigação dos erros foi a extinção em muitas redações da figura do revisor. Mesmo que tenham surgido boas ferramentas como os corretores ortográficos dos programas de edição de texto, eles colaboravam profundamente com o resultado final, atenuando falhas de várias espécies. Por isso, as grandes revistas não abriram mão da ferramenta e, ainda para melhorar o trabalho final, introduziram no Brasil o checador ou fact checker. O recurso surgiu no início dos anos 1990 nos EUA, na CNN, e posteriormente gerou vários sites para verificação de dados em diversos locais pelo mundo.
Segundo a agência Lupa, a primeira especializada neste serviço no Brasil, em linhas gerais entre os riscos e mitos do fact checking estão cunhar frases como sendo “verdadeira” ou “falsa” sem considerar o cenário mais amplo em que está inserida, além de não observar a perda de contexto. É preciso que o jornalista fique muito atento ainda ao uso de dados imprecisos e desatualizados. A escolha das fontes dignas de fé, confiança e de crédito também é crucial bem como o emprego de base de dados atualizada. Afora isso, a rechecagem é uma prática única para solucionar muitos problemas e o princípio da imparcialidade deve ser dogmático.
À procura de inovações, nos anos 1980, com a introdução de um projeto editorial diferenciado, um grande jornal paulista teve como política o chamado “erro zero”. Aos poucos, foi ficando claro que essa busca era uma utopia, mas valia a boa intenção e a contribuição, como já havia interpretado o jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano: “A utopia está lá no horizonte. Me aproximo (sic) dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar”.
O que fica notório é o fato quando um jornalista observa seu próprio erro publicado num veículo. Ele seguramente se sente mal, culpado, impotente e, em certas situações, incompetente, transtornado e angustiado. A razão é que todo o trabalho de apuração, depuração e relato, por mais que tenha sido caprichado e bem trabalhado, acaba ruindo, no que pese o conjunto da obra estar quase intacto.
Em outras áreas, o erro também tem a possibilidade de ter um peso descomunal, como no caso da Medicina, Arquitetura ou na Aviação Comercial, por exemplo, nas quais uma pequena falha técnica pode se tornar uma tragédia devastadora. Nas profissões de Saúde, o erro tem até um nome científico, a “iatrogenia” e para os velhos profissionais da imprensa se chama “barriga”. No jornalismo impresso, eram (re)conhecidos por uma palavra de origem latina, a errata, isto é, no caso de periódicos, os erros identificados após impressão de um texto, com respectivas correções, apontadas no processo de revisão.
Como nada é definitivo e tudo é passageiro no jornalismo digital, o erro pode ser corrigido ou retificado conforme a política editorial. No primeiro caso é quando a falha é apenas eliminada e expurgada após sua identificação, e no segundo é quando, além da emenda fica registrado publicamente que houve a falha e o respectivo reparo. Em geral, em boa parte das publicações da internet, os editores ou publicadores só observam a primeira alternativa técnica. A reflexão ética neste caso é que uma massa de receptores pode continuar desinformada ao ignorar que houve um erro considerável para o contexto da matéria.
Em seu conceituado manual de estilo, o tradicional jornal português O Público definiu muito bem o deslize jornalístico, comparando com outras dignas profissões de alta responsabilidade: “Os médicos enterram os seus erros, os advogados enforcam os seus, enquanto os jornalistas publicam os erros que cometem”. Por consequência, o jornalismo é uma daqueles ofícios em que erro não pode ser contido num círculo restrito de colegas, e à boca pequena, como alguns trabalhadores têm a alternativa. O crítico Euler França conceituou o problema de forma minimalista, simples, mas bem precisa: “Quem não escreve não erra. Quem escreve erra. É elementar”.
Em outro momento da história, o jornalista, escritor e editor Monteiro Lobato tratou do dilema lembrando que nas folhas dos livros eles também não poderiam deixar de comparecer. Ele conhecia muito bem o entrave, principalmente porque foi revisor no jornal O Estado de S. Paulo e convivia diuturnamente com os “piolhos”, como eram chamados os erros tipográficos pelas páginas do jornalão. O literato tentou interpretar a questão quando escreveu: “A luta contra o erro tipográfico tem algo de homérico. Durante a revisão os erros se escondem, fazem-se positivamente invisíveis. Mas, assim que o livro sai, tornam-se visibilíssimos, verdadeiros sacis a nos botar a língua em todas as páginas. Trata-se de um mistério que a ciência ainda não conseguiu decifrar”.
Talvez o maior injustiçado do prêmio Nobel, o poeta, ensaísta, professor, bibliotecário e contista argentino, Jorge Luis Borges, sabia da dificuldade da escrita e de seus enigmas, e por isso anotou num dado momento de inconformismo em algum lugar: “Corrigir uma página é fácil, mas escrevê-la, amigo, isso é difícil”.
Afora a questão gramatical, há as nuances semânticas, ou seja, do sentido das palavra. O romancista, contista, fabulista e poeta Lewis Carroll pontuou a dificuldade nesse quesito: “A questão é saber se você pode obrigar as palavras a querer dizer coisas diferentes. A questão é mostrar a elas quem manda…”, mas ao nosso ver como elas, às vezes, são rebeldes e insolentes, deixam o redator enlouquecido. Borges também sentenciou que “se lemos algo com dificuldade, o autor fracassou”. E, como dizia o jornalista e escritor Rui Castro, “tudo o que é fácil de ler é muito difícil de escrever”.
Em outros momentos o aumento da importância da gramática normativa foi alvo de crítica do cronista e jornalista Luis Fernando Veríssimo que redigiu a notável crônica “O gigolô das palavras”. Na época datilografou: “A linguagem, qualquer linguagem, é um meio de comunicação e deve ser julgada exclusivamente como tal. Respeitadas algumas regras básicas da gramática, para evitar os vexames mais gritantes, as outras são dispensáveis. A sintaxe é uma questão de uso de princípios. Escrever bem é escrever claro, não necessariamente certo”.
O importante, segundo ele, é comunicar e quando possível surpreender, iluminar, divertir, comover. Para Veríssimo, a gramática é o esqueleto da língua. “Só predomina nas línguas mortas, e aí de interesse restrito a necrólogos e professores de Latim, gente em geral pouco comunicativa. Aquela sombria gravidade que a gente nota nas fotografias em grupo dos membros da Academia Brasileira de Letras é de reprovação pelo Português ainda estar vivo. Eles só estão esperando, fardados, que o Português morra para poderem carregar o caixão e escrever sua autópsia definitiva. É o esqueleto que nos traz de pé, certo, mas ele não informa nada, como a gramática é a estrutura da língua, mas sozinha não diz nada, não tem futuro. As múmias conversam entre si em gramática pura”.
Na verdade, esse pensamento já é parecido e corrente entre muitos linguistas pós-modernos, que não valorizam tanto assim a gramática como em outros tempos remotos. Na minha singela visão, a gramática é muito semelhante ao livro de regras de futebol. Um jogador precisa saber o básico e deixar o resto para o árbitro. No caso do jornalista também é assim, necessita saber o suficiente para não fazer feio, e tanto quanto possível não se enganar, mas ele não será um craque das letras se apenas devorar todas essas obras normativas, contendo o conjunto de regras que regulam o falar e o escrever corretamente, conforme a língua-padrão.
Mas vamos adiante. No jornalismo há uma cultura que ainda persiste e ajuda a aumentar incrivelmente a ocorrência de erros, que é a busca incessante pelo chamado “furo jornalístico”, aquela informação importante que apenas um veículo de comunicação divulga. Como existe certa padronização, hoje em dia, na chamada “grande imprensa”, ele é este recurso que é capaz de ser o diferencial da questão, na disputa pela proeminência editorial no mercado. O problema é que as redes sociais, agora, sempre serão as primeiras mídias a dar a informação na frente de qualquer meio de comunicação de massa tradicional.
Como já frisou o jornal O Público, de Portugal, em seu afamado manual de estilo, “o melhor que pode acontecer a um jornalista é dar uma notícia em primeira mão; o pior é ser desmentido pelos fatos”. Já o escritor, roteirista e jornalista colombiano Gabriel Garcia Marques ressaltou que “a melhor notícia nem sempre é a que se dá primeiro, mas muitas vezes a que se dá melhor”. E como adverte o jornalista científico Ricardo Bonalume Neto, “o atraso é o preço da qualidade”. Mas vá falar isso para um editor de um grande veículo; ele poderá correr atrás de você com uma vassoura ou atirar-lhe uma pedra na cabeça, se você for um humilde repórter.
Para finalizar vale enaltecer outro pensador que tratou do erro. O ativista e advogado Ghandi expôs que “de nada adianta a liberdade se não temos liberdade de errar”. E o poeta, romancista, músico e dramaturgo Rabindranath Tagore sentenciou: “Se fechar a porta a todos os erros, a verdade ficará lá fora”. Mas algum malvado no Brasil também já afirmou que “errar é humano, mas não admitir o erro é jornalismo”.
–
Paulo Sérgio Pires é jornalista, publicitário e professor de Comunicação. É especialista com pós-graduação e mestre em Comunicação pela USP, onde foi pesquisador-bolsista.