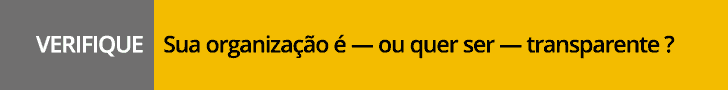“Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity”.
William Butler Yeats, The Second Coming
“The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt. Even those of the intelligent who believe that they have a nostrum are too individualistic to combine with other intelligent men from whom they differ on minor points”.
Bertrand Russell, The triumph of stupidity.
“Tenham nos lábios o louvor de Deus, e nas mãos a espada de dois gumes (…)”.
Salmo 149:6, Bíblia Sagrada.
–
Já faz algum tempo em que, na academia diplomática brasileira, juntamente com meus colegas, tive de reler Antígona, a famosa tragédia grega de Sófocles. Havia lido quando criança, na biblioteca municipal de minha cidade, mas nunca tinha dado muita importância a Sófocles, preferindo outros autores. Resumidamente: Antígona, filha de Édipo e Jocasta, portanto do incesto, retorna a Tebas depois que seu tio, Creonte, assumiu o poder. Seus irmãos, Etéocles e Polinices, haviam se matado em disputa pelo trono e Creonte determina que Polinices não seja enterrado, mas que seu cadáver apodreça naturalmente e seja comido pelos abutres. Quem tentasse enterrá-lo ou desrespeitar o édito seria condenado à morte. Pois surge então Antígona, noiva do filho de Creonte, a qual subtrai o cadáver a céu aberto e resolve enterrá-lo, razão pela qual é condenada, pela lei de Creonte, à morte. Toda a discussão da peça de teatro é ao redor desse dilema que precede a decisão de Antígona: deveria ela agradar aos homens, obedecendo a uma lei autocrática, injusta? Ou agradar antes aos deuses, preservando os bons costumes de enterrar seu irmão, e sua dignidade? Estava fora de questão o interesse de Antígona no trono, ao se opor a Creonte, pois se tratava de uma mulher, o que lhe impedia de assumir dever de Governo, àquela época vedado ao seu sexo. E além disso, tratava-se de uma mulher de fibra moral, pois acompanhou seu pai, Édipo, no exílio. Já havia antes colocado o dever moral de filha acima do seu interesse de conforto de permanência na Pátria.
Eu, à época mais ignorante do que hoje, não conseguia compreender por que estávamos a passar seis meses discutindo esse dilema todos os dias, durante nosso treinamento diplomático. Uma tragédia grega de poucas páginas, cujos raciocínios tão ultrapassados de vida ou honra não alcançavam a complexidade e liquidez do mundo moderno… E todos os dias o nosso professor, Embaixador, que acontecia de ser também o Diretor da academia diplomática, insistia que nos debruçássemos sobre o mesmo velho e bom dilema de Antígona. Aquilo me aborrecia, parecia aborrecer sobremaneira também aos meus colegas. Afinal, o que isso teria a ver com a carreira diplomática? Na nossa visão ainda estreita da matéria, ser diplomata era ser um excelente técnico de brilho acadêmico, observando a Convenção de Viena: negociar, representar e informar em nome do melhor interesse de um Estado muito claro e bem definido; jamais o desígnio de decidir sobre o que é justo e injusto, muito menos quanto a desobedecer ordens divinas, enterrar ou não enterrar pessoas mortas…
É curioso, porque já se passaram quase doze anos desde então, e me reapareceu esse dilema, muito vívido e bem gravado na minha memória, como se eu tivesse relido Antígona apenas ontem. Triunfante, o meu ex-diretor surgiu com Antígona debaixo do braço sobre a nuvem do excesso etológico, dos turbilhões opinativos e dogmáticos que nos atormentam. Afinal, eu organizei a minha biblioteca, e onde está Antígona? Livro que faltou na minha mudança da África para a América Central, onde me encontro, e do qual finalmente senti falta, meio aos outros mil livros dos quais, como personagem de Cannetti, não consigo me livrar.
Dei falta do livro, porque surgiram debates ao redor da inclusão de um abominável lema nazista, do campo de concentração de Auchwitz, “o trabalho liberta”, em um trecho de mensagem do Governo Federal, do qual faço parte, diante do que houve, naturalmente, protesto do Conib, uma organização judaica que também se ocupa da preservação da memória do holocausto e da condenação ao nazismo. Anteriormente, protesto de repúdio similar já havia sido publicado contra o meu próprio Chanceler, o colega que ocupa atualmente a cadeira do Barão, a qual os diplomatas, por instintivo dever de ofício, defendemos. Por diplomatas, certamente não me refiro aos burocratas, incapazes de enxergar a realidade fora de um argumento de eficiência, ou de questionar propósitos; nem me refiro aos ideólogos, os que ignoram a repercussão de interesse de Estado e medem a ação política pelo seu grau dogmático. Pois foi nosso polêmico Chanceler então criticado por ter supostamente comparado uma quarentena permanente neomarxista, de finalidade ambiental sustentável, um elogio às medidas sanitárias de isolamento em um livro de um autor desconhecido, com um indesejável campo de concentração. Em resposta à crítica de organizações judaicas, o Chanceler recordou ser apoiador da causa de Israel, e que condenava em sua resenha justamente o antissemitismo que teria defendido o tal autor neomarxista, cujo livro conteria uma espécie de elogio a Auschwitz. Não li o livro do autor neomarxista, cujo nome já não mais me recordo, pois prefiro me dedicar a melhores leituras; portanto não saberia avaliar a resenha que ensejou sua necessidade de defesa. Felizmente eu não preciso me meter nesse fuá.
Já a mensagem adicional que se apresentou na mídia social da Secretaria de Comunicação do Governo, em resposta às críticas e repúdio que se seguiram, foi de declarar-se o próprio chefe daquele órgão um judeu, para se eximir da responsabilidade do que publicou. Em tese, parece-me, ser judeu não veda a possibilidade de se equivocar, haja vista a tantos erros registrados do povo judeu nas Escrituras Sagradas. Criticou aquela autoridade, de todo modo, o que teria sido também uma descontextualização de palavras publicadas, a pedido de sua Chefia. Afirmou que essa prática de descontextualizar frases comuns viria para conformar uma narrativa de que o Governo estaria propagando ideais autoritários, em nome de uma ambição pessoal de representantes da mídia e da sociedade. O responsável pela Comunicação do Governo alertou às associações de preservação da memória judaica sobre o perigo de banalizar o rótulo de nazi-fascista: de que acusando todos de nazi-fascismo, estariam produzindo uma mentira, com o que deixariam os verdadeiros nazi-fascistas confortáveis, colocados no mesmo saco de pessoas normais… A similaridade entre o que ele propagandeou e o que um regime nazista propagandeou outrora não parece tê-lo incomodado ainda. Ou teria incomodado, a ponto de incluir, no texto divulgado, que o texto lhe tinha sido determinado por outrem?
Tomei nota de outras ocorrências de tensões recentes desse tipo. Anteriormente, também o ex-Secretário de Cultura do mesmo Governo brasileiro citou e imitou discurso de Goebbels, sem condená-lo, aliás sem disso sequer fazer caso: alegando que as palavras ditas outrora num contexto de perseguição antissemitas eram ainda válidas hoje, apesar dos intentos e contextos serem diferentes. Foi demitido, felizmente, por pressão da sociedade e do Congresso Nacional. Também a Secretária de Cultura atual, uma atriz brasileira, afirmou que a tortura sempre existiu; que a morte violenta e tortura seriam algo natural e consequência necessária da vida; e que Stalin e Hitler seriam algo inevitável. Essas fricções públicas configuram uma tendência de banalizar a morte, o genocídio e a violência como elemento constitutivo da política? Ou integram um contexto prévio, no qual esse tipo de manifestação se tornou possível?
A ver outros eventos recentes na sociedade, que podem estar eventualmente ligados a esse contexto: a invasão da Marcha pela Ciência, organizada pela SBPC por cientistas em tom oposicionista ao Governo, por “hackers” neonazistas. Por que hackers neonazistas estariam acompanhando as atividades da SBPC, sem ter sido provocados a isso? Houve também publicações contrárias ao uso da bandeira de Israel em um evento espontâneo de apoio ao Presidente que, ao que tudo indica, teria sido organizado e patrocinado pelo Exército, e não pela comunidade judaica. E, ainda, em menos de dois meses, ocorreu também a manifestação espontânea de uma mulher da região sul, seguidora do bolsonarismo, sugerindo marcar pessoas que seguissem as recomendações de isolamento social das autoridades de saúde com uma “fita vermelha”, durante a pandemia, para não receber alimentos. Isso foi também repudiado pelo Museu do Holocausto de Curitiba como uma manifestação de caráter nazista. Aliás, posteriormente a seguidora se retratou, o que foi igualmente divulgado com destaque. Tomei nota, ainda, do alegado uso da imagem do intelectual Simon Schwartzman em material de vídeo de um ideólogo do governo brasileiro, nos EUA, sem a autorização e a despeito do repúdio do Dr. Simon, o que também foi denunciado nas redes sociais, talvez divulgado em metade da comunidade judaica, e assim chegou a meu conhecimento.
No setor privado, pode-se recordar, também houve, algumas semanas atrás, a exposição em massa de obras da autobiografia de Adolf Hitler em uma livraria de um shopping em São Paulo, a qual se recusou a retirar as obras. Foi necessário uma visita gravada em vídeo pela Sinagoga Sem Fronteiras, para apresentar os argumentos pelos quais a exposição em destaque daquele livro maligno poderia configurar propaganda nazista, diante do que a livraria optou, de espontânea vontade, por retirar os livros da seção de destaque das prateleiras. Sabemos, contudo, que para exposições de destaque nas prateleiras, todas as livrarias de franquias realizam cobranças extras às editoras, o que sinaliza que a editora quis, portanto, conferir um destaque à obra, tendo dispendido certamente recursos financeiros para isso.
E o inverso, é também verdadeiro? O uso sintomático do adjetivo de nazista e de fascista desgastaria o termo, quando não corresponde exatamente ao nazismo e ao fascismo, banalizaria a gravidade e a crueldade daqueles movimentos históricos? Não saberia aferir com certeza definitiva, sobretudo quando o termo é utilizado como sinônimo de “abominável”. Talvez algo não seja abominável; mas isso não desgasta nem retira sentido da palavra original. Em nota recente, de modo apropriado o Museu do Holocausto de Curitiba discorda, sendo mais severo: “Acreditamos que uma sociedade consciente, desperta e munida de pensamento crítico só será uma realidade em nosso país quando o conhecimento se sobrepuser a mitos ideológicos e a práticas desconexas às lições da História: dentre elas, a banalização da Shoá [holocausto] e o uso desequilibrado do nazismo como metonímia do mal e para fins partidários.”
De fato, talvez esses eventos de fricção doméstica nos quais existe um exercício de aferir referências nazi-fascistas, de contexto recente, tenham contribuído para aumentar a atenção nos atos de Governo, quando tangenciam a comunidade judaica. A oposição política rapidamente se apropria desses eventos, de fato, para desgastar a reputação do governo e incentivar divergências; inclusive das próprias manifestações de repúdio da memória da comunidade judaica. Seriam manifestações efetivamente de uma concepção totalitária, despreocupada em ferir memoriais? De todos esses, pareceu-me aquela manifestação de uma seguidora do bolsonarismo a mais grave. Embora seja imoral buscar obter favores da comunidade judaica insultando a memória coletiva de um povo, muito mais preocupante, parece-me, foram essas manifestações de populares, porque consistiu em uma dedução espontânea na sociedade, no contexto de um alinhamento político de qualquer cidadão comum.
Implícito, ainda, a essas tensões, há decisões que vêm sendo discutidas na sociedade e no exterior contra o Brasil como sendo manifestações intencionais de eugenia, um dos fundamentos dos regimes totalitários, a partir do momento em que a cúpula do Governo reafirma a impossibilidade de defender vidas de populações mais vulneráveis a um novo vírus, sob pena de prejudicar a produtividade da economia e o progresso brasileiro. Isto também seria uma mostra de totalitarismo?
Penso algo complicado, não pertencendo à comunidade judaica, nem sendo especialista em saúde pública, responder a essas questões. O enfrentamento a um vírus novo tem ocorrido de diversas maneiras no mundo, e em alguns países até o momento há estratégias produzindo mais óbitos por 100 mil habitantes, como recordam os defensores do governo, na Suécia; porque alguns países optaram conscientemente por rechaçar um estado de excepcionalidade, preservando maior liberdade do indivíduo, mesmo que isso colocasse sob maior risco de vida de idosos e de populações vulneráveis. Alguém, em nosso contexto doméstico, cogitou afirmar o que ocorre na Suécia como genocídio ou eugenia, ou desde sempre o nível de isolamento naquele país é enxergado, pelos brasileiros, como parte de uma escolha possível, como uma prerrogativa de soberania? Fica a sensação de preconceito, quando o debate dos brasileiros ocorre apenas contra o Brasil, como se esse não fosse um problema novo e complicado para todos os países, o qual vai sendo assimilado pelas autoridades e pelas sociedades à medida que se desenrola.
Seria necessário, ainda, aprofundar nas discussões sobre eugenia, para chegar a uma possível resposta. Eugenia aparentemente é um termo conhecido pela tese do primo de Darwin, Francis Galton, o qual desenvolveu muitas contribuições ao conhecimento, não obstante o seu argumento de que seria possível melhorar geneticamente a raça humana, evitando cruzamentos indesejáveis. As falhas desse teoria são hoje evidentes, quando nos voltamos ao fato de que a percepção da inteligência está, ela própria em contínua evolução. A teoria na época, contudo, fazia sentido, afinal, a seleção artificial produziu vacas que dão mais leite. Por que não seria possível selecionar, portanto, seres humanos que produzissem melhores obras? Há algumas falhas claras nessa teoria, além de ignorar o peso do fenótipo e da experiência cultural para a produção criativa, cujos papeis evidentemente são muito maiores face ao peso da hereditariedade. Os testes de QI, por exemplo, talvez poucos saibam, nem sempre foram como são hoje. Inicialmente, no protótipo do primeiro teste de quociente de inteligência, conforme o Dr. Sylvain Levy, referência na área, as mulheres se saíram substantivamente melhor que os homens. O teste de QI foi então alterado, com a finalidade de permitir um maior equilíbrio no número de questões nas quais os homens também tivessem um bom desempenho… Um pressuposto ético, de que a inteligência de homens e mulheres deveria ser equivalente. Portanto a seleção artificial do que se considera inteligente e notável tem uma origem anterior, na percepção daqueles que criam seus instrumentos de medição; diga-se de passagem, com a finalidade, talvez inconsciente, de favorecer aquelas qualidades que eles próprios valorizam… Os alemães nazistas acreditavam piamente na eugenia, no arianismo, na superioridade do que consideravam diferenciar uma raça alemã, até terem visto seu território completamente destruído pela própria ignorância, pela impossibilidade óbvia de subjugar seres humanos, para confirmar sua tese. Se nem ao próprio Deus e Criador os seres humanos se subjugam inteiramente, sendo a vida um longo esforço permeado de desobediências e torres de Babel, que dirá então se subjugar a outros seres humanos que exaltam a beleza da língua alemã…
Mas voltando à dúvida suscitada, de considerar ou não a falta de ação do Estado uma iniciativa deliberada de eugenia, recordei que não condenamos prontamente os outros países que alcançaram picos de mortes por um novo vírus. Isso porque, convenhamos, é algo muito distinto, avaliar o risco de uma situação sanitária sob parâmetros de valores diversos em cada sociedade, do que enviar pessoas a um campo de concentração, ou deliberadamente exterminar gentes. Pois mesmo que o governo decida não obrigar ao isolamento social, as pessoas podem mesmo assim fazer suas escolhas de permanecer em casa e cumprir com as recomendações do consenso científico, amplamente divulgadas e disponíveis, tanto aos que dispõem de meios, quanto aos cidadãos mais simples, por meio das orientações mantidas por várias instituições religiosas tradicionais.
Além disso, até o momento, no caso específico do governo brasileiro, tem-se oferecido condições de apoio, ainda que possam ser questionadas em sua suficiência, para que as pessoas possam permanecer em isolamento social. O governo brasileiro ofereceu subsídio financeiro e a dispensa de presença no serviço público, em todas as esferas, garantindo opção ao teletrabalho. Dar as pessoas o arbítrio de decidir sobre a prática do isolamento, e mesmo atuar favoravelmente a que ignorem recomendações de autoridades de saúde, diante de um vírus, é algo muito diferente de condenar pessoas ao trabalho forçado e à morte em guetos ou em campos, ou privá-las permanentemente de liberdade, em função de apresentar certas características físicas, religiosas ou étnicas. Ter uma opinião sobre o assunto dos genocídios, da eugenia e dos campos de concentração é algo muito fácil, quando selecionamos episódios e construímos um cenário político para conformar juízos; contudo analisar a factibilidade desse juízo, sabemos, é algo mais raro.
O Dr. Arnaldo Lichtenstein, médico diretor técnico do Hospital das Clínicas, em São Paulo, trouxe de volta à tona, oportunamente, o pensamento de Galton, para colocar em questão o que propõe o governo, quando assume a inevitabilidade de que um vírus se propague em 70% da população e de que o vírus novo elimine os que tenham pior sistema imunológico; e fez bem, porque uma política pública não deve assumir tolerável o extermínio daqueles que detenham pior sistema imunológico, sendo a Medicina todo o esforço para garantir que todos organismos humanos, independentemente de seu desempenho, tenham o direito à saúde. Contudo parece-me que reconhecer a primazia e fúria da natureza sobre algo que não se encontra sob total controle humano, que também escapa à capacidade científica, é para todos efeitos, falar em uma seleção natural, e não artificial. A ação do vírus, salvo tenha sido concebido ou estocado intencionalmente como arma, deveria ser entendida separadamente da ação humana. Sem dúvida se espera que o Governo jamais oriente sua conduta pelo estado de natureza, em que sobrevivem os mais fortes, porque a justificativa do Estado é justamente evitar a realidade do barbarismo e as contingências que a seleção natural impõe aos animais. Mas reconhecer as próprias limitações, numa espécie de fatalismo característico brasileiro, e sobrestimar a impotência de agir, é algo difere substantivamente da proposta de uma seleção artificial, de eugenia. Além disso, até mesmo o próprio conceito de selecionar os mais aptos, da teoria eugenista do século XIX, não implicava em genocídio: Galton levantou a hipótese de que a concentração de certas características geração após geração, de magistrados, escritores, cientistas, poderiam estar ligadas à influência de algum tipo de herança genética, para além dos hábitos herdados por pertencer a uma família ou deter um sobrenome. Naquele século, a anacronia de verificar vantagem evolutiva na reprodução de seres humanos “mais capazes”, sob critérios que viesse a aventar a ultrapassada mente eugenista, seria algo substantivamente diferente de deixar de atuar deliberadamente ou atuar ativamente para eliminar vidas. A teoria da hereditariedade da inteligência, de Galton, voltava-se sem dúvida para a hipótese de seleção artificial, baseada em pressupostos equivocados de que talentos poderiam estar associados a genética, e não às circunstâncias de desenvolvimento da atividade da alma e do espírito; mas mesmo uma seleção artificial jamais envolveu um debate na comunidade científica associado extermínio, ou de genocídio. O pensamento científico positivista do século XIX não cogitava nem prosperava sob a égide de barbarismos, mas de hipóteses para encontrar explicações.
O uso de remédios pancrestos, a panaceia como recurso político meio à pandemia tampouco induz a uma tentativa deliberada de genocídio, pois embora seja a idiotice uma característica sublinhada em regimes totalitários, é comprovado que o efeito de um placebo pode ser recurso útil em um estado de calamidade no qual não existam ainda respostas possíveis. A humanidade vem usando ervas medicinais desde que existe, assim se construindo, porque necessita dar respostas a um sofrimento intolerável: desde que, logicamente, sejam ervas medicinais, e não venenosas, com efeitos colaterais que causam piora na saúde.
Mantendo portanto o tino científico, a minha convivência de respeito e de admiração, e buscando contribuir para a preservação da memória judaica, é preciso assinalar, não obstante, a importância do que me parece constituir um patrimônio histórico imaterial da humanidade: o combate a essas seitas de barbarismo, ao pensamento retrógrado que organiza instrumentos de poder ilimitado em detrimento da dignidade universal, que defende e propagandeia a morte seletiva como algo desejável. A integridade dessa memória sobre os discursos de insanidade que ensejaram o nazismo e o fascismo é indispensável para preservar valores de humanidade sem os quais nenhuma sociedade pode prosperar. O enlutamento por mortes, a necessidade de guardar memória de cada vida, a condenação à violência seletiva contra grupos, também fazem parte desse memorial. Sentimento que, a propósito, também se encontra em Antígona, na peça de Sófocles, porque também dizia respeito a um mínimo de dignidade que se deve oferecer a qualquer vida humana, a dignidade de lamento quando uma vida se perde; ainda que a motivação política tivesse sido outra, a disputa pelo trono. Ali encontramos a necessidade de bom senso de que, ao se constatar a perda de uma vida, o confronto contra essa vida cesse. Encontramos também nessa tragédia o princípio de que o embate político tenha ao menos como limite refrear-se do uso da morte e do luto que dela resulta para construir um discurso político ou obter vantagens de governo.
Essa capacidade de enlutamento coletivo também está na base do patrimônio da memória judaica do holocausto, da cultura judaico-cristã. Lamentar o sofrimento é parte desse bem que a comunidade judaica oferece ao mundo e aos povos, também cristalizado quotidianamente no Muro das Lamentações, mas presente sobretudo no respeito à memória de quem partiu, quando se defende que nenhum aspecto dessa memória seja profanada. O que a comunidade judaica nos oferece e guarda, portanto, não é apenas uma história que interessa a seu próprio povo, ou uma reação diletante, frente a qualquer referência de contextos do qual se aproprie; mas uma capacidade de ter sentimentos de humanidade perante o que ressone registros de uma crueldade vil, de desprezo intencional à vida. A memória preservada pelos judeus é, portanto, uma reserva moral, fundamento de humanidade, sem a qual não teríamos luz nem alerta diante de situações limites que regularmente se apresentam. Um antídoto histórico bem preservado ao mal que ocasionalmente tenta ressurgir no mundo e que, por meio da emulação, convida à normalidade do ultraje da guerra. Parece-me, portanto, muito legítimo e devido, que independentemente de alinhamentos e de interesses políticos, a comunidade judaica reaja sempre com vistas a preservar a integridade desse bem intangível, a memória do holocausto, a condenação do totalitarismo. Patrimônio cultural que, aliás, fundamentou a criação do próprio Estado de Israel, consagrada pelo apoio e saber multilateral brasileiro, importante àquela época.
Para combater essas fontes de banalização do mal que, como bem apontou a grande teórica Hannah Arendt, é uma das origens do totalitarismo, parece necessário manter contínua reserva nesse assunto. Pois uma ditadura totalitária que abraça extermínios e perseguições não surge da noite para o dia, mas aventando, normalizando e avançando discursos que buscam legitimar a morte, que nos convidam a minimizar ou ignorar seletivamente o lamento pela perda de vidas. Após esses discursos nos quais a importância da vida é relativizada em nome de alianças e concessões, tornam-se possíveis os atos e as marcas autocráticas de ódio a minorias políticas, os impulsos de guerra disfarçados de promessas de glória… Indesejáveis à nossa sociedade brasileira e incompatíveis com o nosso projeto de futuro desenhado pela Constituição.
Eu iria mais além: diria que para evitar que o totalitarismo se aproprie e monopolize um sentido de Estado, é necessário criar e extrair na cultura melhores sentimentos de glória e de identidade que buscamos, dos quais temos falta. Sem os sentimentos que valorizem e dignifiquem a pluralidade em uma Pátria, o espaço ao qual nós pertencemos e escolhemos pertencer, forma-se a massa amorfa, facilmente superável por uma minoria de fanáticos, mobilizados por uma visão monolítica. É preciso encontrar as virtudes do plural absoluto: um absoluto que abomine a visão monolítica, a mentira e a manipulação, a presteza ao comando, que nos defina como pessoas que recusam o que é totalitário. O recurso à ironia de Machado de Assis, os elementos de malandragem que consagraram Malasartes como herói no imaginário popular… A preguiça de odiar da qual nos orgulhamos, sendo brasileiros…
A glória dos brasileiros, aliás, sempre foi fazer prevalecer o Estado de Direito, preservar a paz em todo um continente: esse o troféu que sempre ostentamos diante de outros povos, como fonte inesgotável de prestígio internacional. Que isso continue a nortear a nossa cultura e sociedade, mas para isso não será necessário encontrar novas palavras, novos discursos e elementos que emocionem e mobilizem…? Hoje, se observarmos, mesmo em uma situação de excepcionalidade, pela crise sanitária recente, as autoridades e a sociedade brasileira vêm incessantemente manifestando o contínuo desejo de retornar a uma normalidade social e jurídica, embora se vejam obstados pela realidade de um novo vírus.
A pluralidade de discursos que observamos nas disputas políticas também se volta a denunciar autoritarismos: as massas são mobilizadas para denunciar atos “ditatoriais” uns dos outros, num momento de excepcionalidade de uma pandemia, o que tem trazido à tona reclamações sobre disputas entre as esferas de Governo. Não é de todo ruim que esse movimento de fricções baseados no questionamento seja preservado, pois ele nos permitirá retornar do estado de excepcionalidade para o estado de normalidade com grande segurança. Diferente contudo, da falta de lamento no discurso público sobre revezes coletivos.
Haverá sentimento detrás de uma fachada de pedra? Nós também deveríamos ter a cautela de não ignorar que a ausência de manifestação de um sentimento de luto não significa deixar de viver o luto. Os homens e as autoridades no Brasil são criados sob essa expectativa de não manifestar emoções, de ser a referência inabalável, buscamos na autoridade pública comprovações de que o perigo não os afeta. Ao brasileiro, é piegas se exercitar diante de uma câmera buscando chorar, pois embora a língua portuguesa permita sempre encontrar em qualquer discurso muitos significados, no Brasil todos são alfabetizados na leitura da autenticidade de sentimentos.
Mas essa situação específica que se coloca, entre defender o que me parece justo, de um lado, condenando o uso político de expressões que possam recordar, ainda que de longe e com propósito político, o mal nazista, abominando a falta de lamento aos mortos; e, de outro, obedecer ao que pareça necessário para observar o discurso governamental, mantendo um protocolo de alinhamento, em uníssono com as vozes do governo, me fez portanto recordar daquela tragédia grega de Sófocles. É também apenas uma alegoria, ainda não é uma analogia; porque sabemos que o discurso atual do governo não consiste em defender mortes por vírus, a fim de priorizar a economia; o discurso revelado por generais, que se inspiram muito mais em De Gaulle que em Hitler, ao menos até o momento, é o de balancear as medidas sanitárias, de maneira a evitar mais mortes por causa da possibilidade concreta de violência e de desorganização social, decorrentes de uma paralisação completa da sociedade. O fato das mortes por vírus constituírem uma ameaça imediata e visível, e das mortes por violência e desordem social constituírem uma ameaça ainda incerta e intangível, talvez tenha prejudicado a comunicação.
Cedo ou tarde, contudo, essas visões vão convergir, e talvez a autoridade federal tenha buscado se antecipar a esse cenário para estar no ponto de chegada, sem ter percorrido o trajeto da corrida com os demais entes federativos…
Mas, retornando ao mundo alegórico deste momento, Antígona se via diante do dilema de endossar a autoridade de seu tio, Creonte, acatando uma decisão completamente contrária à lei divina, de não enterrar nem lamentar a morte de seu irmão; ou então ignorar a determinação de seu tio e solapar a governabilidade autocrática de Tebas, antes cumprindo com o que ao ver da sociedade era minimamente digno para com um familiar. Essa, aliás, uma determinação dos deuses em que se refugiava a sociedade de Tebas; pois no que determinavam os deuses se encontrava um sentido coletivo e um propósito de coesão social.
Para ela não era relevante, nem importante, a questão da punibilidade: se seria ou não presa, ou prejudicada com isso: o que torna Antígona sem dúvida o herói silencioso que pulsa no peito de cada cidadão comum, quando se vê diante do sofrimento de um igual; da necessidade de formar sua própria opinião sobre a conduta de um governante. O cidadão comum também tende a desconsiderar, pela sua relevância dissolvida na coletividade, as vantagens e desvantagens disso decorrentes.
Face à decisão de Antígona de enterrar o cadáver de seu irmão e agradar antes aos deuses, de cumprir com princípios e valores de dignidade, Creonte manda prendê-la e decreta sua morte lenta e degradante na prisão; mas com isso o filho de Creonte, noivo dela, se suicida; e também se suicida a esposa de Creonte, por causa do suicídio de seu filho. O resultado é a desgraça que caracteriza o desfecho das tragédias gregas. E resulta também disso a queda da legitimidade e do governo autocrático de Creonte, o que a população afirma ser por causa da inevitável fúria dos deuses. Fossem tempos modernos, a desgraça na boca do povo seria em função de uma decisão visivelmente equivocada de governo, contrariando princípios universais.
Com isso Sófocles também nos deixa uma lição sobre o paradoxo e insustentabilidade de decisões autocráticas, baseadas unicamente na vontade despótica de um governante, ou mesmo na força; pois os princípios universais de dignidade cedo ou tarde falarão mais alto, mesmo quando apenas uma única pessoa se recuse a endossar uma única ordem. Um governante que deposita toda a sua legitimidade na obediência absoluta e na preponderância da força de seus exércitos ignora tudo o que se transcorre ao seu redor… Quando extravasa os limites do poder temporal, violando preceitos divinos, hoje lógicas constitucionais, acaba fadado à queda, porque sempre haverá em qualquer sociedade política quem não possa enganar a própria consciência.
Por que ensinar isso a uma turma de diplomatas, eu me perguntava? De fato, recebemos ordens, devemos reproduzir discursos e tônicas, e nem sempre as instruções são executáveis sem violar algum preceito de nossa consciência do que é correto. Muitas vezes temos de abrir mão do que nos dita a consciência, em nome da hierarquia, da governabilidade democrática e do interesse do Estado, e guardar nossas convicções para momento mais oportuno. Contudo, é preciso ter a clareza de que, diante de um corpo de funcionários altamente qualificado que reage de modo disciplinado e obediente para fazer cumprir toda instrução, sem dúvida cresce a tentação à autocracia no governante.
Afinal, se toda sua vontade se transforma em realidade, como saberá o governante discernir que sua ordem viola preceitos “divinos”, hoje os princípios constitucionais? Daí a declaração absolutista francesa, “L’État, c’est moi”, “O Estado sou eu”, e tudo o que decorre como revolução diante desse abuso, que na verdade não depende apenas da vontade declaratória do autocrata absolutista, mas resulta do apoio de um conjunto de pessoas que endossam incondicionalmente um governante. Portanto, se tudo que uma liderança deseja é acolhido e cumprido, também um corpo qualificado em cumprir instruções guarda uma responsabilidade fundamental sobre a segurança de quem ordena. Afinal, Creonte, cercado de bajuladores e tendo selecionado apenas colaboradores submissos, devia acreditar estar imbuído de uma legitimidade e do favor dos deuses. Esquecendo-se, com isso, que suas ordens eram cumpridas não por sua virtude inata de líder, mas por contar com um corpo qualificado de governo; e passa à sua tragédia por não enxergar os próprios limites, os quais eram claramente visíveis e observáveis aos demais.
A diplomacia doméstica, assim como a inteligência, enfrenta esse mesmo dilema de Antígona, pois como estão ambas a serviço do poder, não o restringem. Saber quais são os próprios limites, diante dos quais se aceitará ou não cumprir com o serviço, em nome de princípios constitucionais, parece algo fundamental para se prevenir a dificuldade que enseja novas e mais decisões que podem vir a desgastar o governo e o bem comum. O mundo, sendo um lugar competitivo, nos transmite essa mensagem: o que desgasta um governo também desgasta um país, pois o torna vulnerável a maior quantidade de críticas e o coloca sob o desconforto da permanente avaliação alheia; desgasta, por consequência, o que é interesse do bem comum da população que se encontra sob a autoridade desse governo. A democracia sendo todo o movimento necessário a despojar o autocrata dessa falta de senso de limites, comprovando que nem toda ordem poderá ser executada; mas dando a conhecer, pelo diálogo, que assim será para evitar o seu próprio desgaste e a sua queda subsequente, para preservar a governabilidade de mandatos e a integridade dos instrumentos de seu governo.
Foi com não menor surpresa, portanto, que vi parte da comunidade judaica se antecipar a esse dilema sobre o qual me debruço, saindo em pronta defesa do governo, endossando iniciativas que lhe são desejáveis. Possivelmente a comunidade judaica no cenário doméstico assim procedeu em nome de uma aliança política e geoestratégica fundamental para a sobrevivência de Israel, Pátria de refúgio de toda comunidade judaica espalhada pelo mundo. Afinal, seria mais importante e urgente para a sobrevivência daquele Estado apoiar um governo aliado, em ações conjuntas contra grupos que se opõem à sua existência hoje, do que preservar a memória dos mortos do holocausto, da história que ensejou a sua criação? Mas os representantes da comunidade judaica souberam felizmente evitar esse dilema, abraçando ambas as necessidades, por meio de sua pluralidade: alguns representantes expressaram repúdio ao uso indevido de referências que ressonam a cultura nazista e, ao mesmo tempo, outros representantes garantiram a amizade estratégica, endossando vontades do governo brasileiro.
Quanto a mim: na visão de cientista política, seria mais fácil enxergar uma tendência natural de concentração de poder, em todo sistema político, da parte de quem assume o poder. Um governante que já obteve o que desejava de seus apoios, porquanto o momento eleitoral é superado, para evitar cobranças, tende a criar situações desconfortáveis aos apoiadores, a fim de excluir grupos políticos de matiz ligeiramente diversa do seu núcleo decisório, para concentrar poder nas próprias mãos; para exercer o poder com exclusividade. É mais fácil governar sem ter de harmonizar muitos interesses conflitantes, sem ter de se defrontar com as dificuldades intrínsecas de encontrar o mínimo denominador comum de uma democracia, dirigindo-se a um núcleo duro e a uma massa homogênea cuidadosamente preparada, sobre pilares de adesão, hierarquia e recompensa. O poder do Estado favorece isso, porque está calcado em monopólio do uso legítimo da força, por meio das forças armadas e policiais, e essa tendência se mantém, sobretudo enquanto um governante consegue controlar e suprimir a viabilidade de eventuais concorrentes. Foi assim em todo governo, e ainda é assim em governos no mundo inteiro. Os balanços e contrapesos se encontram no fortalecimento dos outros Poderes.
Contudo, no dever de poeta e diplomata, prefiro ficar pelo menos mais seis meses ponderando com muita precaução, como me ensinaram a fazer, todos os dias, antes de tomar qualquer partido do que seja melhor: na alegoria de Antígona, o dilema de enterrar e lamentar cadáveres condenados por um déspota; ou anuir a uma governabilidade autocrática de Creonte. Nem na literatura ousarei decidir algo para o que não tenho mandato… Estarei negando minha própria cultura judaico-cristã? Alguns chamariam de hesitação conveniente. Pois é típico dos ignorantes rechaçar a ponderação com ira, defender certezas absolutas que não têm, em nome de uma ambição; reduzir a importância de problemas de difícil solução, mesmo sabendo não somos oniscientes… Pensar e não pensar: existiria algo assim? Não é obrigatório julgar nem decidir para pensar, e por isso esse é tão excelente exercício. Talvez o dilema de Antígona, aliás, nesse ínterim de reflexão, desapareça; talvez não. Jamais o saberemos, enquanto não o resolvermos, tal como o gato vivo e morto de Schrödinger.
Eis oportunamente o tempo para que novas variáveis sejam acrescentadas, até que a opinião coincida com o conhecimento, e assim se atinja a chance de se estar 100% vivo… Diante do que se pretende, o teatro de fazer do absurdo uma mentira, para dizer que a reação ao absurdo é um fútil exagero, nada mais útil do que a prevalência da dúvida: o antídoto de Schrödinger, até certo ponto, serve a combater o abuso absolutista, porque não confere à certeza absoluta a vitória. Manter algo em aberto também permite não ensejar o dilema moral que possa ter justificado ou explicado fato oneroso; pois querer a dúvida de se estar vivo é deixar de desejar a morte.
Sim, como dizem os poetas, porque é preciso suspender no tempo e no espaço o que não sabemos pela experiência; dotar de imaginação o poder, encontrar novos impulsos diante do que enfrentamos, acrescentando o que antes não sabíamos, o que possa contribuir a um desfecho positivo. Reduzir nosso pensamento a decidir apenas dentre as mensagens que recebemos é refrear a nossa criatividade diante do maniqueísmo, dar vazão a esses impulsos conduzidos por uma ambição mesquinha, que exigem mais atenção, mais poder incontestável… Ora, dirigir nosso pensamento em função desses falsos dilemas ao redor da desimportância da morte, pesando escolhas apenas sob raciocínios políticos binários, buscando o elogio de uma ética que definimos, é algo que nos reduz panoramas: desmancha o nosso futuro, desfavorece o equilíbrio… A deixar de reconhecer nossa impotência e de nos prostrar diante do sofrimento, somos menos humanos: deixar de sentir e de lamentar não cria sinergias e harmonias coletivas necessárias para permitir superar a realidade da morte. O prazer de encontrar novos elementos, novos caminhos e novos discursos para uma vida partilhada passa por uma reflexão e consolação conjunta, e também por um tempo de luto coletivo diante da possibilidade de tragédia, necessários para encontrar a sobriedade de melhores argumentos, para não esvaziar de sentido a memória que estamos construindo.
Deixo ao leitor deste mês um soneto que preparei para uma formidável neurocientista, Livia Rivka, a qual por ser médica em São Paulo, se expôs lamentavelmente à Covid-19. Ela está em recuperação e é membro do Corpo Editorial da Revista Jovem de Medicina e Ciências. Foi com responsável liderança que ela obteve o êxito que mencionei, de terem sido retiradas autobiografias de Hitler das prateleiras de destaque de uma livraria, em um shopping em São Paulo. O que a faz uma pessoa admirável: teve a sensibilidade de rogar a mudança, e conseguiu fazê-lo mobilizando a memória judaica e sua autoridade sinagógica, apenas munida de bom senso e do diálogo. Quantas pessoas teriam comprado aquele livro maligno, e mesmo que não tivessem comprado, quantas pessoas teriam achado normal a propaganda daquele infeliz genocida que desejava protagonizar todos os eventos da Europa? Jamais se poderá aferir o valor desse ato que salvaguardou a dignidade humana, o valor de poupar do mal a consciência de um número intangível de pessoas. Depois de pedir a intercessão de muitos mosteiros e conventos pela pronta recuperação de Dra. Livia, veio também a prece mundial de 14 de maio convocada pelo Papa, a rezar por todas as pessoas que necessitam de nossos bons sentimentos para vencer esse combate ao novo vírus. Oremus!
–
Soneto pela vida de uma só pessoa (CLXIX) – Ana Paula Arendt
O mundo inteiro está rezando pela tua causa,
Mas espere! Agora também reza o mundo futuro
Nestas linhas muitos olhos vão fazendo pausas,
Porque isto aprendi de um nome teu bem seguro.
O mundo inteiro a uma só pessoa se dedica,
Sem saber por que repete em rezas a tua leveza
Agradece sem o saber, porque com igual presteza
Uma só pessoa lamentou ao vislumbrar Guernica.
Assim, para que o mal da guerra nunca mais se repita
Ora o mundo inteiro, por tua pronta cura, maior fortaleza
Dizendo a uma só pessoa o quanto é importante e bonita,
Uma só pessoa, face ao mundo e sua imensa grandeza.
E muitas mais salvas, porque uma só pessoa se dedica
A um mundo de sanha furioso, por sua maior delicadeza.
–
Imagem: Nikifóros Lýtras (1832-1904), Antígona perante Polinices.
–
Ana Paula Arendt é poeta e diplomata brasileira. Escreve mensalmente na coluna ‘Terra à Vista’.
–
Ressalva: os trabalhos sob o pseudônimo Ana Paula Arendt pertencem ao universo literário, refletem ideias e iniciativas da autora e não necessariamente posições oficiais do Governo brasileiro. Estes trabalhos literários buscam estar em consonância com os valores e princípios da Política Externa Brasileira relacionados ao diálogo, à dignidade humana, ao desenvolvimento e aos direitos fundamentais do indivíduo. A autora está sempre aberta a sugestões e críticas.