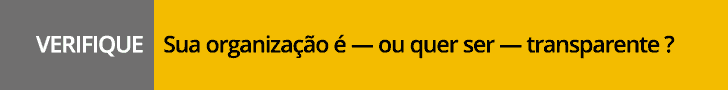“… estamos buscando a Justiça, que é um bem muito mais precioso do que muitas barras de ouro”.
(Platão, República, I, 336).
“A Justiça é ter uma chance concreta de ser ouvido, de ser tratado com respeito e dignidade,
de ser indenizado pelas adversidades sofridas…”.
Abhay K., poeta e Embaixador indiano
“Para o conceito tradicional, justiça é o respeito ao outro e ao coletivo, respeito esse garantido, inclusive, com a punição, por desvios morais, legais, éticos, que agridam ou firam o direito do outro, sem distinções de nenhum tipo ou baseada em entendimentos pessoais; e sim e tão somente por percepção coletiva de princípios, devendo se possível ser aplicada a todos de forma igualitária”.
Babalorixá Odesi
“Na Justiça há uma venda
ou está à venda a Justiça?
A Justiça está vendada
ou a Justiça está vendida?”.
Paulo Grinspun
“Espiritualidade acima da média é amorosidade, generosidade, tolerância, respeito, senso de justiça, cooperatividade, além de humildade e espírito de serviço. Intolerância, julgamento, ameaça, irritação, acusação, preconceitos são característica da baixa espiritualidade, do primitivismo religioso, separatista, orgulhoso, atrasado, verdadeira âncora no desenvolvimento da humanidade”.
Eduardo Marinho
“Não é, no entanto, fácil, em meio a tanto desarranjo de coisas, enquanto a disposição de muitos ainda permanece agitada de sentimentos de vingança, alcançar uma paz que seja igualmente moderada pela equidade e pela justiça, que satisfaça com fraterna caridade as aspirações de todos os povos e elimine os gérmens latentes das discórdias e das rivalidades. Consequentemente, de modo especial são esses que têm necessidade das luzes celestes, cabendo-lhes o gravíssimo encargo de resolver tal problema, de cujo juízo depende a sorte não apenas de sua nação, mas também de toda a humanidade e das futuras gerações”.
Papa Pio XII, Carta Encíclica
Communium interpretes dolorum, 1945.
“Desejas a paz? Seja justo e terás a paz, pois a justiça e a paz se abraçam”.
(Sl 84, 11)
O que é a Justiça? São muitas as respostas possíveis a essa pergunta. Talvez cada um tenha a sua experiência pessoal e o seu desejo privativo de Justiça, mas como evitar um relativismo moral indiferente a qualquer resposta? Seria possível encontrar para a Justiça um significado partilhado, de valor comum e universal?
No sistema jurídico, os seus representantes de praxe justificam a sua própria existência pela Justiça como finalidade: a virtude de dar a cada um o que por direito lhe pertence. Diferentes expectativas do que é de direito e cabe a cada um, entretanto, levam esse princípio a distintos caminhos e conclusões. Ocorre que, como nos sugere o Babalorixá Odesi, o direito de um não pode subtrair o direito do outro, e por isso não é possível para um cidadão se satisfazer apenas com a sua própria noção de atitude moral: para isso existindo a mediação da lei e a necessidade de um senso de moral coletivo…
Afinal, o que pertence a cada um? Para Bobbio, justiça é ordem. E que tipo de ordem pública, ou ordenamento jurídico, conservaria a Justiça? Por instinto natural, ao pensarmos em Justiça como ordem, imaginamos uma situação de normalidade, na qual gozamos precisamente do que nos cabe e nos pertence, sem a necessidade de ter de prestar justificativas. E o que nos cabe? Direitos e deveres, sendo os direitos uma lista vasta de bens materiais e morais, ou mesmo espirituais, que nos são indispensáveis ao bem-viver com autonomia e a uma vida em sociedade satisfatória. Recordo do direito à honra, do direito à vida; à liberdade, ao arbítrio. Nesta era tecnológica, também o acesso, o direito ao conhecimento e ao gozo da própria alma, tendo em vista os avanços de tecnologias que são capazes de suprimir ideias e dirigir o pensamento, além de condicionar o comportamento do indivíduo. Recordo, também, do velho direito à propriedade, advinda do trabalho e do mérito. Direito ao sustento; mas também a uma certa igualdade que nos corresponda, como nos diz o Papa João Paulo II, em sua Encíclica Centesimus annus, de 1991: ‘Deus deu a terra a todo gênero humano, para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém’. Direito à equidade, à expressão, à ampla defesa, à livre associação e tantos outros direitos sociais e garantias individuais que podemos encontrar no respaldo constitucional.
Contudo ao prosseguir na lista de direitos, tensões vão surgindo e nos desviando da possibilidade de um conceito de justiça universal, que não seja corrompido pela facilidade do relativismo moral. Kelsen nos recorda que entre a teoria jurídica e a prática se forma com frequência um hiato entre a norma e a sua aplicação. Na realidade, nem todos se vêem contemplados por um determinado ordenamento das coisas, o que alimenta um longo debate jurídico sobre a primazia das regras no positivismo, em decorrência dessa dificuldade de implementação, inerente a toda obra.
Já para Weber, essas tensões decorrem necessariamente da administração da justiça por um aparelho burocrático do Estado, onde se conformam interesses de grupos e o problema da legitimidade. Os potenciais conflitos inerentes a um sistema de domínio legal-burocrático estariam relacionados quer com o princípio de legitimidade, quer com a relação entre aparelho e detentor do poder. O princípio de legitimidade de um sistema de autoridade legal contém uma tensão interna entre justiça formal e justiça substancial que, em nível de estrutura social, se concretiza na complexa relação entre Burocracia e democracia de massa. Segundo Weber, a tensão entre justiça formal e substancial é um dilema que não pode ser eliminado num sistema de domínio legal (ver Bobbio, Dicionário de Política, verbete ‘Justiça’).
Desde uma perspectiva mais filosófica, e talvez do próprio Legislador, a justiça poderia ser também um desejo, no pensamento contratualista de Rousseau: uma vontade do indivíduo que, sendo participante da Vontade geral, pode considerar-se soberano e, enquanto é governado, súdito; mas um súdito livre, porque, obedecendo a lei que ele ajudou a fazer, obedece assim a uma vontade que é também a sua autêntica vontade, o seu natural desejo de justiça (ver Bobbio, Dicionário de Política, verbete ‘Vontade Geral’).
E por que desejo convidar o leitor a refletir sobre o que é a Justiça? Três casos me perturbaram a paz de espírito, como cidadã, neste mês: a manutenção por alta corte brasileira de uma decisão de júri do interior de Minas Gerais, em que se concedeu liberdade a um homem que esfaqueou sua ex-mulher por ciúmes, mas alegou defesa da honra; também um caso de um assassinato de um candidato a vereador em Minas Gerais, que me era desconhecido, mas que sinceramente não foi menos chocante, por ter ocorrido por motivo fútil… Ele estava questionando o critério de pavimentação dos passeios pelo secretário de obras, irmão do prefeito da cidade de Patrocínio (MG), o que teve ampla repercussão na mídia nacional. E por fim, recordo ao leitor de sentença de uma juíza em Curitiba, no Paraná, que cita como elemento incriminatório a cor da pele do réu: condenado também ‘em razão de sua raça’.
No primeiro caso, parece haver um desconforto causado pelo hiato entre a justiça formal de que nos fala Kelsen, entre o que de um lado leva o judiciário a atender a certos critérios legalistas, para manutenção do sistema jurídico; e de outro lado, a necessidade da justiça substancial, aquela que determina os direitos previstos em carta constitucional e no código civil. Um júri pode ignorar o direito à separação e ao divórcio, previsto no Código Civil, e produzir decisões que sejam contrárias às cláusulas pétreas constitucionais, que garantem o direito da mulher à vida? Ou a própria lei que condena o feminicídio? Pois então se auferiu em alta corte, pela norma, que o júri teria o direito de determinar que matar uma ex-mulher seria uma justiça ‘aceitável’, quando motivado o homicídio pela honra; independentemente do que nos diz a lei, ou da proibição da pena capital. Se bem isso ocorreu sob o protesto de alguns juízes supremos, a tese abjeta da defesa da honra masculina se transcorreu no Brasil, em pleno ano de 2020; e que honra haveria em esfaquear alguém pelas costas? Também podemos perceber uma contradição frontal dessa decisão com o que nos ensinou Nosso Senhor Jesus Cristo e com o que estipula a sagrada Torá, os textos sagrados que didaticamente nos ensinam que todos estamos sujeitos a esse tipo de falha em um relacionamento de longo prazo, e que não devemos condenar no outro algo em que tão constantemente falhamos. Em geral as três grandes religiões monoteístas condenam a violência contra mulheres, e prevêem possibilidades de uma mulher repelir um cônjuge violento e abusivo de diferentes maneiras, mas não apenas: também encontramos a importância de respeito à vida e de elevar a espiritualidade nas culturas e religiões politeístas; e até mesmo entre os ateus, como o leitor pode verificar nas frases em epígrafe.
No segundo caso, o homicídio de um candidato a vereador, ainda desconhecemos seu contexto, pois apenas nos chegou a notícia do fato pelos jornais. Mas podemos sem embargo observar certos aspectos que também suscitam essa pergunta sobre o que é a Justiça. Pois ao ver do assassino, na sua conduta, certamente via como injusta a crítica do candidato à construção da calçada na rua de um comitê eleitoral de seu irmão, a banalidade que teria ensejado o crime. E, tendo percebido como intolerável, tomou ele próprio a providência de corrigir a injustiça, fazendo a ‘justiça pelas próprias mãos’, em um primeiro momento subtraindo seu celular, no momento em que o candidato gravava a crítica; e em um segundo momento teria desferido os tiros à queima-roupa. Se a crítica era injusta, o secretário de obras poderia reclamar judicialmente a reparação do discurso de oposição que lhe causava dano; mas isso lamentavelmente não ocorreu. A insistência do candidato morto no seu direito a criticar e fazer oposição política, considerando que vivemos sob um ordenamento que permite a concorrência eleitoral, chocou-se frontalmente com o protesto do direito da outra parte, ainda que contra um mínimo desgaste político. Por que não recorreu à mediação das autoridades quem se viu em situação de dano?
E, no terceiro caso observamos uma juíza que produziu uma sentença racista em uma sociedade não-racista e, pelo contrário, de muitas cores; na qual se convencionou aplicar leis que condenam o racismo, inclusive o que prevê a própria Constituição Federal. Não apenas a juíza ignorou o marco legal que condena o racismo no Brasil, como também a Corregedoria-Geral do TJ-PR, em que foi denunciada, teria arquivado o questionamento sobre essa conduta, de justificar uma decisão com base na ‘raça’, isto é, na cor da pele de um réu.
No plano do raciocínio da justiça como finalidade, para certos juristas, essas diferenças e divergências sobre o que é a Justiça se apoiariam não em diferentes argumentos, ou interesses, nem poderiam ser resolvidos por uma prova empírica: pois a avaliação justa ou injusta dessas práticas e o seu desacordo se apóia numa atitude moral (Bobbio, Dicionário de Política, verbete ‘Justiça’).
Poderia se provar que não se pode absolver um homem que assassina a ex-mulher sem com isso negar a existência do direito à separação e ao divórcio; que uma democracia supõe necessariamente o exercício da liberdade de expressão, a crítica e a oposição política; que o racismo atende menos ao interesse do racista do que uma sociedade não-racista; mas sendo a justiça ou a injustiça uma atitude moral, esse tipo de argumento de ordem racional, ou baseado em evidências, não surtiria nenhum efeito.
A origem dessa atitude moral seria, por sua vez, também matéria de controvérsia: poderia ser tanto uma discricionariedade do indivíduo, quanto uma atitude que se confunde com as crenças que se renovam na sociedade, na adesão à norma de certos grupos em que o indivíduo prospera. Em muitas cidades do interior de Minas, os meninos crescem ouvindo histórias e piadas sobre ‘cornos mansos’. Nessas pequenas cidades, os ‘causos’ e piadas vão ensinando condutas sociais e o que é aceitável e inaceitável; as quais tendem a minimizar a importância da dignidade, da autonomia e da vida da mulher, ainda que com isso se contradiga o que a lei dispõe. Também no interior de Minas, certos grupos políticos e famílias tendem a confundir o exercício de uma função pública com a própria personalidade; e com isso tendem a se apropriar do espaço público como uma extensão do seu exercício de propriedade familiar, o que leva políticos a defender suas posições públicas como defenderiam a sua dignidade, ou os seus próprios bens. No Sul do País, encontramos menor proporção de negros e mulatos, tanto demograficamente quanto em posições de poder na estrutura política e judicial, o que torna possível que uma corte produza e admita sentenças dessa natureza, sem com isso exprimir contradições ou causar um profundo desconforto entre os pares.
Esses elementos sociais e culturais conformariam o hiato entre teoria e prática do qual nos fala Kelsen? Será que necessariamente a ideia que teremos formado de Justiça é a de uma finalidade difícil de ser alcançada, como uma utopia? É possível encontrar uma atitude moral que corresponda à Justiça sem recair no obstáculo de aceitar, como um dado da realidade imutável, fundamentos que construíram a nossa cultura? Afinal: uma noção conrada, lógica e incontornável é a de que, para que algo seja justo, a justificativa que aplicamos ao outro deve ser um critério válido, também, para si mesmo.
Pois será que o ex-cônjuge que tentou matar uma mulher, ao ter flertado ele próprio ou trocado mensagens com outras mulheres, teria tentado se matar ele mesmo, para preservar sua honra? Ou a honra apenas se tornou um elemento relevante e indispensável quando outra pessoa a subtraísse? Será que o político que se viu prejudicado por uma crítica seria capaz de viver sem produzir nenhuma crítica a seus adversários políticos? Ou a crítica apenas é intolerável quando feita pelo outro? Será que a juíza que produziu a sentença racista ficaria contente em ser discriminada em função da cor de sua pele branca, recebendo uma punição adicional, por um crime? Ou aquela funcionária pública, cuja sentença nos obriga a uma leitura abjeta, não cogita essa possibilidade de ser discriminada pela cor da sua pele?
Ocorre que a aplicação da norma de Justiça, ou da ideia de Justiça que temos, ao outro, como sendo aquela que deve também ser aplicável a nós mesmos, é um pressuposto moral religioso. Ao menos assim é a atitude moral com a qual passamos a conviver em sociedade, deixando de lado o isolamento e a guerra de todos contra todos: faça ao teu próximo o que gostaria que fizessem a ti mesmo. Essa era a origem do senso e da retidão de caráter, da virtude com que se valorizava o justo, desde os tempos imemoriais a que nos remetem as sagradas escrituras e os antigos ritos tribais que tive o privilégio de testemunhar na África: alguém que consegue ter consciência não apenas dos seus próprios direitos, e da necessidade de construir o próprio caráter, mas que consegue enxergar e respeitar a existência do outro, responsabilizando-se e contribuindo para a sua formação.
Contudo em nenhum desses três casos conseguimos conceber, ainda que apenas em teoria, a possibilidade de que pudessem aplicar a si mesmos o critério de que se valeram para prejudicar a outrem, seja pela honra, seja pelo exercício da crítica, seja pelo malicioso critério da raça. Nem vimos nisso qualquer efeito que contribuísse para corrigir uma má conduta ou para melhorar a vida do outro. O que deveria nos levar a pensar se, efetivamente, quaisquer critérios e argumentos suscitados para justificar uma conduta agressiva para com o próximo têm qualquer fundamento de justiça; ou se, na verdade, a intenção pura e simples era agredir ao outro, em decorrência de emoção, idiossincrasia e desvario.
Ocorre que uma “moral laica”, se é que é possível referir-se assim a um preceito moral sob um raciocínio que condena a religião no espaço público, não está ancorada em um fundamento de fé essencial: de que todos os homens, machos e fêmeas, foram feitos à imagem e semelhança divina. Sendo todos, portanto, em essência iguais perante um Ser superior, a despeito de guardar suas particularidades biológicas, diferentes funções, atributos e circunstâncias, isso nos leva a admitir a necessidade de aplicar o raciocínio de que nos valemos para julgar o outro para nós mesmos. A moral laica falha em admitir a existência do outro, porque é autorreferente; e assim deixa de perceber a necessidade de um conteúdo valorativo cujo teor corresponda a um senso de Justiça partilhável. Quando a existência do outro como um igual, como um irmão, é um fato negligenciável, isso produz raciocínios nos quais o próprio objetivo e razão de ser da lei é violentado, ou -e não menos importante – que a aplicação da lei. Prolifera, então, o conceito de justiça como vingança, como punição pelo ato de desvio de uma conduta, sem examinar os fatos nem aferir a legitimidade desses atos, quando eles estão em conformidade com o que a formalidade jurídica permite. A essa pseudo-moral laica parece não importar o conteúdo ou valor das normas, mas tão-somente sua vinculação formal ao sistema normativo, nesse processo de validações sucessivas que vão assegurando o prestígio e a posição de quem administra a justiça. A justiça não como ordem pública, como pleiteia Bobbio: mas como ordem privativa, de quem se ocupa da manutenção do sistema legal.
O resultado de um ordenamento jurídico que se acomoda à validação de decisões e que não esteja em busca de encontrar o que é a Justiça, incluindo um consenso com o outro, necessariamente irá transpor os conflitos da sociedade a um nível de formalidade jurídica e, como nos conta o Papa Pio XII, na sua encíclica de 1945, ‘tudo o que ultrapassasse os limites da justiça e da equidade, certamente, cedo ou tarde, voltaria com enorme dano para os vencidos e vencedores, pois aí estaria escondida a semente de novas guerras’. Ora, no Brasil estamos nos referindo a cerca de 200 milhões de processos legais em apreciação, e a cerca de 1 milhão de advogados; uma demanda imensa, diante da qual a população se retrai, após muitos anos, em desesperança de ver seu pleito atendido. O resultado é uma sociedade que ignora o sistema jurídico e sua eficácia, atribuindo com isso maior gravidade e um senso de última instância ao sofrimento e circunstância de que padece.
Com isso prevalece a sucessão de conflitos que, fosse mediado por um sistema voltado para auxiliar o cidadão a alcançar a justiça na sua perfeita medida, seria curado pelas autoridades. Contudo, um pleito se torna não raro origem de mais eventos negativos, protestos e honorários aos advogados que mantêm bom trânsito nos tribunais… Esse cenário meândrico desconvida o cidadão a enxergar a Justiça como um bem acessível. A falta de respeito com que o cidadão é tratado por partes contendoras, a falta de clareza em bons testemunhos e de visibilidade de bons resultados do sistema judicial dificulta que o cidadão veja seu problema com tranquilidade, em seu devido tamanho e dimensão: como algo passível de solução e de recurso. A morosidade da Justiça, ou sua falta sob uma situação de grande adversidade, faz com que um conflito instalado ganhe uma dimensão desproporcional pelo desgaste emotivo, como se apenas restasse ser resolvido diretamente pelo conflito entre os envolvidos.
Mas se nos voltamos para a fonte da atitude moral que ensejou uma convivência pacífica entre os homens, e da qual bebeu o Direito em suas várias denominações e formalidades, encontramos contudo o edifício humano, construído, conforme o Papa Pio XII, sob a insígnia da justiça e da caridade. Dificilmente se poderia olvidar dessa virtude da aplicação de uma regra aos cidadãos que seja a mesma regra que se aplicaria a si mesmo. No ensinamento moral religioso, para esses efeitos, a virtude dos santos conduz à justiça, mas a uma justiça que se confunde com o sumo bem. Na encíclica Veritatis Splendor, o Santo Papa João Paulo II nos recorda que Santo Agostinho afirmava que a justiça vem da luz que se chama verdade: ‘Daqui, portanto, é ditada toda a lei justa e se transfere directamente ao coração do homem que pratica a justiça, não vivendo aí como estrangeira, mas quase que imprimindo-se nele, à semelhança da imagem que passa do anel à cera, sem abandonar todavia o anel’ (De Trinitate, XIV, 15, 21: CCL 50/A, 451.) Recorda também do exemplo de São João Batista, que recusando-se a calar a lei do Senhor e a comprometer-se com o mal, ‘deu a sua vida pela justiça e pela verdade’. (Missale Romanum, In Passione S. Ioannis Baptistae, Oración Colecta). E também a crucificação do Cristo é, para Pio XII, uma ‘reparação de justiça do Eterno Pai ofendida’, guiando-se por perfeita retidão de juízo, superior a todas as tempestades das perturbações humanas (Mystici Corporis, Pio XII, 1943).
Pois então a Justiça, para aqueles que se incluem nesse esboço civilizatório que inspira a convivência cristã e religiosa, necessariamente é uma atitude moral que não se desvia de um preceito absoluto do bem do outro, nem mesmo quando outras circunstâncias distorcem ou convidam a flexibilizar.
E o que seria o bem? O bem, nos textos sagrados, consiste em pertencer a Deus, obedecer-Lhe, caminhar humildemente com Ele, praticando a justiça e amando a piedade (Miq 6, 8)…. A posse de uma terra onde o povo pudesse viver uma existência em liberdade e conforme à justiça (Dt 6, 20-25)… A ‘justiça’ que a Lei exige, mas não pode dar a ninguém, encontra-a o crente manifestada e concedida pelo Senhor Jesus. (Rm 3, 28). Santo Agostinho também sintetiza a dialética paulina sobre a lei e a graça: ‘Portanto, a lei foi dada para se invocar a graça; a graça foi dada para que se observasse a lei’. (Veritatis Splendor, SPJP II, 1993).
Na dificuldade de pôr em evidência os princípios duma solução, conforme à justiça e à equidade, e de precisar com exatidão os direitos e os deveres que devem ao mesmo tempo reger a riqueza e o proletariado, o capital e o trabalho, o Papa Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, afirma que nos textos sagrados ‘Quando exigiam justiça ao povo, não ditavam um código de moral; apontavam a vontade de Deus contemplada pela fé’. (Rerum Novarum, Leão XIII, 1891). Nesse sentido, o Santo Papa João Paulo II também parece concordar que existe uma ‘luz da razão natural’, ‘reflexo no homem do esplendor da face de Deus’. Ele nos recorda que São Tomás de Aquino escreve ao comentar um versículo do Salmo 4: ”Depois de ter dito: ‘Oferecei sacrifícios de justiça (Sal 4, 6)’, como se alguns lhe pedissem quais são as obras da justiça, o Salmista acrescenta: ‘Muitos dizem: quem nos fará ver o bem?’. E, respondendo à pergunta, diz: ‘A luz da Vossa face, Senhor, foi impressa em nós’. Como se quisesse dizer que a luz da razão natural, pela qual distinguimos o bem do mal — naquilo que é da competência da lei natural — nada mais é senão um vestígio da luz divina em nós”.
É incompatível, esse senso moral de Justiça que encontramos nas sagradas escrituras que nos remetem a uma Justiça revelada no rosto do homem, com o ordenamento jurídico e as normas constitucionais que observamos? Certa vez um magistrado e professor de Direito me asseverou que é preciso buscar a Justiça onde quer que exista o Direito. Disse assim porque fez referência ao texto bíblico, em uma decisão para favorecer uma viúva e seus filhos, que se via desamparada de instrumentos jurídicos para gozar de herança. Fato: algum senso de direção norteia o jurista em busca do Direito, quando inconsistências e grandes hiatos se formam, e quando não há regras suficientes para provê-lo. Afinal: em Direito Internacional também temos um ordenamento regido pelo costume, e o costume na nossa sociedade é influenciado por um senso de Justiça de valor moral construído historicamente pela civilização cristã-judaica, por princípios religiosos.
Sabemos com certeza o que não é a Justiça. Pois ela não pode ser a mera transposição dos conflitos, quando a natureza humana não encontra um caminho construtivo de desenvolvimento e afeto. Esse caminho de transpor os conflitos a uma esfera jurídico-legal impede um estado de alma sincero e regride o ser humano: pode causar grandes danos à humanidade, porque subtrai a possibilidade de resolução de uma diferença e a esperança de verdadeira Justiça.
Contra o prazer da indignação diante da injustiça, contra uma concepção de justiça como reconhecimento de mérito, quando o mérito esteja em submeter o outro ou ostentar vitórias sobre o outro, eu partilho com o leitor um poema novo em que laborei este mês, sobre o que me parece se aproximar do que originalmente nos levou a buscar a vida em sociedade: a Justiça como redenção. Como uma sibipiruna: a árvore bem brasileira que reina na floresta pela delicadeza de seus galhos, que dança sob a brisa e filtra as tempestades mais implacáveis. Da estrutura de seu tronco e de seus galhos firmes e cheios de flexibilidade, pendem incontáveis folhas, flores, frutos… Assim deveria ser a Justiça: algo de fácil acesso a qualquer pessoa e que nos apazigua, uma proteção encantadora, debaixo da qual gostaríamos de nos colocar. De qualquer ponto de vista, algo vivo e majestoso, de beleza esplendorosa; um amparo concreto a nos dizer maior sabedoria e frases lapidares, que nos protegesse de perpetrar e sofrer a violência, o caos e as animosidades.
–
Ode à sibipiruna. Ana Paula Arendt.
Ó, césar do bosque, ó árvore cesalpínea, tua copa volumosa sobre o dossel da floresta, com manguaras graciosas. Ó verça crochetada de verde, de folhinhas finas, nervurosas… Em ti a arte da delicadeza, de ramificar tua canção sobre a rua em que vives; de propagar-se até o menor detalhe, em vales, ribanceiras e aclives. Vieste a mim em um revezamento de esperança: a sibipiruna havia entrado em risco de extinção, quando eu era criança. E na palma feliz de minhas mãos pequenas, a planta serena e muda; num envelope, as tuas pastilhas vermelhas e miúdas. Não tinham o gosto doce das minhas utopias, duras demais para mastigar! Os índios as carregavam aos muitos, com sementes de jarina e açaí, em colar. E sem saber o peso desses grandes ornamentos, o meu dever de semear o sonho de árvore em outubro: nos descampados da mata e em vertigens caiçaras, para crescer as contas polidas de brilho rubro. Os moleques correndo na praça souberam da árvore, então desconhecida; e à prima do flamboyant, todos já faziam guarida, nos bulevares e nos outeiros, nos bosques estalajadeiros de toda espécie de vida pulsante. As árvores semeavam ao vento, mas mãos humanas se fizeram ajudantes. Os vizinhos se perguntavam: e como estão as tuas sibipirunas hoje? Despontaram, pouco a pouco, meio à fauna e menos bojes: tuas folhas delicadas, com solo macio de fazer tapetes. Junto ao rosto, tão suave, a camurça dos teus ramalhetes… E varredores foram contratados para espanar teus presentes: de ter emprego muito contentes, as caboclas e a gente parada. A lua reluzia sobre a tua frança de flores amareladas. Vegetação apenas de nossa terra e civilização, nativas as tuas revoadas. Refulgente sob os raios de luz filtrada, as tuas capelas abertas, onde rezam os sabiás. Ó, sibipiruna! É primavera, e o morototó te chama para brincar… És castelo antigo de mil borboletas flavescentes sobre uma coluna lúrida; columpias de sossego, submissa à brisa. Majestosa, peneira o dia veemente, basculante em regos: bailarina, sacerdotisa…! Os solidagos sonham com a altura de tuas varas douradas, com teus rácemos de pétalas cróceas em constraste, com os cachos glaucos de pequenos imperadores chineses de robe jalde em teus porches. Ó árvore tersa de gesto brando, amiga do que te assopra a haste! Convicta de verde, perene do que te ocorre: dando frutos do que te escorche… Pela noite dormes! Os pontos rendados de teu vestido fresco se dobram, enquanto a lenha de tuas ervilhas se estala sobre as calçadas. E ladrilhos macios desprendidos de teus galhos de ouro… Desembainhávamos, pela noite artificial, teu encanto vindouro. Subíamos os meandros de tuas raízes ressaídas, puxando a ramagem de tuas folhas, para coroar cabelos de confete carnavalesco, com tua vida. Tua seiva pulsando, prosseguindo vagens de valvas, explodindo desde a brandura frondosa as sementes indestrutíveis de teus andares… Sibipiruna, agora és canção em muitos lugares! Teus galhos macios a coberta dos pássaros em noite fria, os teus cachos vistosos a moldura do céu azul de dia; o amarelo pungente coisa augusta que as abelhas rainhas vestem em seus colos para receber mais beijos… E tudo que nos dás, nada custa, o teu frescor salva da selva de concreto em que nos vejo. Quando bem rara invocas teu domínio solto que livras da pedra e, escondida no sono, uma canção de encanto me quebras… Sobre o bem de viver sob a tua sombra gentil o verbasco nos canta. Ai..! Mas cai um corpo debaixo de sol, sem a sombra gentil de teu crivo em manta! Ai! O pesadelo de viver sem tua música santa, sob o domínio ininterrupto da eletricidade, sem os teus botões que nos tombam de leve! Sem teu abraço feito de flores tantas, como nos sacode copiosas lágrimas um nó na garganta, como o frio se desfaz em muitos flocos de neve… Sem que o orvalho numeroso à nuvem se eleve, precipitando, com o vento forte, a boa chuva tanta. Sibipiruna, me responda: diga ali, diga em ondas… Quando iremos fazer parte da tua melodia mansa de arrefecer os calores que nos incomodam, quando iremos criar os fatos que nos norteiam rumo aos que de nós discordam, espraiando imagens corredias, desde a força geratriz de uma florada fulgurante? Quando faremos de nossas sementes as pulseiras de lembrar de nosso semelhante….? Quando teremos de nosso crescimento uma incessante paisagem? Como a dor e o luto cessarão com nossas palavras de antes, igual coas de solo e chuva a tua fina mensagem? Ergues um caule resoluto, para se abrir sobre as trilhas, verdecer as pracinhas, ornar os passeios… Abres tua casca de sangue, perfeita como asas de joaninha, germinas desde o que é duro, mínimo e feio. Sibipiruna, me responda: diga ali, diga em ondas… Quando seremos detalhe sem retalho, guardando o musgo, o amendoim e a calêndula? Filtrando as pancadas de borrasca com galhos finos, regando em gotas a relva e os seus inquilinos, pela bruma desta manhã tristonha e pêndula… Ó testemunha silenciosa das minhas pálpebras se abrindo, quando o sonho se esconde! Antes da aurora, velaste o nosso sono, toda aberta em venação das frondes. Jamais dicotômicas, tuas nervuras reticulam, tuas folhas ramificam. Os pontos de teu indumento se pintam de sol, porque dele praticam… E assim ele te deu látiros da mesma cor cheios, presente do rumo celestial de teus afáveis anseios. Mas sibipiruna, me responda… Diga ali, diga em ondas… Quando seremos auriverdes com os frutos brasis que tu nos fazes? Quando morrerão semente o prazer da indignação, o instinto esganado, os pessimismos contumazes? Quero teus gestos humildes de fazer chão macio aos pés descalços de curumim, com grãos duradouros do envio de centenas de pequenas esperanças, de crescer no jardim, acolhendo outras árvores tuas… Rastreando nascentes e lençóis, com raízes salientes e nuas; custodiando os arbustos, orquídeas, samambaias, irapuãs e pássaros… Ser antídoto do grito rude e dos brados sáfaros, com lastro em tua alastrada abundância! Quando teremos acomodado o nosso princípio desde um caroço sem circunstância…? Ó, sibipiruna, me responda. Diga ali, diga em ondas… Quando teremos entregado as nossas partes distintas à palma da mão humana, para dela consagrar beleza de nosso esforço? Jamais extinta, agreste e urbana; de ser brasileira, nenhum remorso…
–
Ana Paula Arendt é poeta e diplomata brasileira. Escreve mensalmente na coluna ‘Terra à Vista’.
–
Imagem: Sibipiruna, por Carol Costa.
–
Ressalva: os trabalhos sob o pseudônimo Ana Paula Arendt pertencem ao universo literário, refletem ideias e iniciativas da autora e não necessariamente posições oficiais do Governo brasileiro. Estes trabalhos literários buscam estar em consonância com os valores e princípios da Política Externa Brasileira relacionados ao diálogo, à dignidade humana, ao desenvolvimento e aos direitos fundamentais do indivíduo. A autora está sempre aberta a sugestões e críticas.