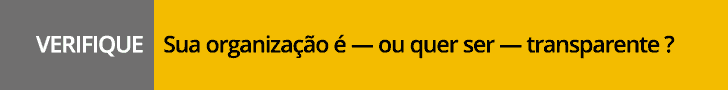No final de semana do dia 14, Juliette Freire, cantora e campeã do BBB 21, fez uma declaração no programa Altas Horas sobre a participação política dos artistas. Isso fez com que a atriz e comediante Samantha Schmütz questionasse em um tweet se Juliette era de fato uma “artista”. É claro que os cactos, como se denominam os fãs de Juliette, junto com outros artistas como Anitta, Tata Werneck e Astrid Fontenelle, rebateram a atriz, defendendo a cantora.
O posicionamento de Samantha me fez lembrar de um outro comentário, no mesmo sentido, feito por Martin Scorsese já há alguns anos, mas que sempre volta à tona a cada nova estreia dos filmes da Marvel. “Marvel movies are not cinema”, disse o diretor, completando que havia sido instaurada uma verdadeira fábrica de “parques de diversões” em Hollywood.
Antes de nos questionarmos o que é arte, quem a define e quem deve ou não ter a propriedade dela, há uma verdadeira hipocrisia nestas falas ou, pelo menos, uma grande ignorância. Veja, esta é uma questão lógica. Tanto na pergunta de Schmütz, como na afirmação de Scorsese, a ideia disseminada aqui é a da industrial cultural, de Adorno e Horkheimer. Na teoria crítica da comunicação, estes autores, acreditavam que existia uma alta e uma baixa culturas, devido à mercantilização dos processos de produção artística. Isto é, os produtos de entretenimento resultados da industrialização da cultura não podiam ser considerados como de qualidade, ou nem mesmo, que poderiam produzir um efeito crítico nos espectadores. Todos estes produtos eram desenvolvidos com o objetivo de manipular as massas. Logo, fariam parte da uma baixa cultura. Enquanto, manifestações vindas do povo, até as da elite, mas de maneira espontânea e como resultado da repetição de hábitos e costumes de um grupo social, esses faziam, então, parte da alta cultura, pois eram considerados como atos legítimos.
Nesta perspectiva, podemos dizer que não apenas Juliette, mas também Samantha e, (pasmem!), até mesmo Martin Scorsese, fazem todos parte de uma baixa cultura. Sim, pois todos eles estão dentro de um modo de produção capitalista, seja dentro de uma emissora como a Globo, aqui no Brasil, seja como em um ambiente como Hollywood e o cinema estadunidense. Nos três casos, há um planejamento do entretenimento produzido por eles. Contudo, o que está sendo ignorado aqui é a possibilidade de consumo que não mais é passivo, como no auge dos meios de comunicação de massa, mas que se transformou em participativo graças à internet e à sociedade midiatizada.
Por meio dos fandoms, os fãs são capazes de se agrupar de forma a descobrirem interesses em comum e lutar a favor deles. Mesmo começando com algo simples e trivial, como o direito por um final de série melhor, eles são capazes de aprender a usar as ferramentas necessárias para defender aquilo em que acreditam. Além disso, por mais que as narrativas compartilhadas pelos cânones originais sejam ficcionais, nelas estão contidos valores morais. Assim, consumir determinada obra torna-se um ato político. Em outras palavras, o que quero dizer é que, uma menina, fã da Viúva Negra, ou até mesmo da Feiticeira Escarlate, é capaz de aprender sobre o feminismo e qual a forma mais adequada de lutar contra o patriarcado, vendo filmes da Marvel e interagindo com outras meninas com ideais parecidas. As obras estão carregadas de significados que, por mais abstratos, podem ser extraídos com facilidade, principalmente pelos mais jovens, que tendem a ver a vida de uma forma menos complicada.
Tendo dito isto, nada é simples! Scorsese tem razão em criticar o parque de diversão? Ora, claro que tem! Há uma grande diferença em explorar a mesma história em diversas mídias como uma estratégia capitalista, de contar a mesma história, de maneiras diferentes, em diversas mídias, com o intuito de adaptar o aprendizado para audiências distintas. Neste sentido, está tudo bem a Marvel ser um parque de diversões, desde que contribua para o letramento de seus fãs. Se a Marvel for capaz de transformar um machista, ou a Juliette, um xenófobo, em pessoas um pouquinho mais tolerantes, então a cadeia de produção se legitima e temos razão de sobra para queremos não apenas reproduzi-la, mas melhorá-la.
Agora, é preciso pensar em porque é evidente a falta de interesse em replicar esta lógica: a subversão do poder. Uma das razões pelas quais é completamente sem sentido um artista dizer que a arte do outro não é válida é porque há alguns estudiosos da estética que dirão que a arte e a subversão andam de mãos dadas. Portanto, paradoxalmente, este artista que nega a manifestação do outro, está na verdade, a reconhecendo. Quer dizer, poderíamos inferir, então que, filmes da Marvel são tão artísticos, que até Martin Scorsese fica chocado com eles!
Mas é mais do que isso. A cultura de fãs subverte o controle da narrativa e os padrões de consumo. Eles demandam dos conglomerados mídia um comportamento alinhado ao discurso organizacional, para além de uma postura progressista. Não há nada pior para um público crítico do que uma empresa dizer uma coisa e fazer outra. Dessa forma, não é mais a mídia corporativa que agencia a sociedade, mas os fãs. Quanto mais eles dão visibilidade a um tema, mais este tema fica visível. É assim que os algoritmos funcionam nas redes sociais, por exemplo. Numa sociedade midiatizada isto diz muito. Diz tanto, que Jenkins – e eu irei citá-lo muito por aqui – explica que as narrativas de ficção podem levar os fãs a uma participação cívica muito maior do que uma vontade consumista.
É possível presumir, então, que há uma tentativa de desqualificar esta cultura. Se os conglomerados não querem compartilhar o poder, logo eles lançam mão de uma contra narrativa: a indústria cultural vira alta cultura e a cultura de fãs vira baixa. Passa-se a disseminar a ideia de que uma cadeia de produção que resulte em arte é melhor do que vender bonequinhos e camisetas para pagar efeitos especiais caríssimos.
Precisamos lembrar então que antagonizar culturas, tentando moralizar o debate, apenas reproduz um padrão antigo que já sabemos que não apenas não funciona, mas que leva uma noção de eugenia: o meu é melhor que o seu e, portanto, o seu merece ser aniquilado. Este sim é um pensamento perigosíssimo. E um pensamento que, por mais que estejamos no século XXI, ainda não superamos. Por mais que estejamos todos em rede e tenhamos a possibilidade de criar vínculos com pessoas tão distantes fisicamente, no entanto com dilemas tão próximos aos nossos, o ódio reina. E reina com vigor, com vontade. A fábrica de ódio está aberta e funcionando a todo vapor. Enquanto isso, se não conseguimos obter consenso nem naquilo em que concordamos, ver o dissenso como um meio de transformação é quase inimaginável.
No final das contas, Samantha Schmütz pediu desculpas a Juliette, disse que o audiovisual está mudando e que isso a deixou frustrada. Scorsese não foi tão sincero e tentou fazer uma emenda que saiu quase pior que o soneto, não à toa ele é lembrado de tempos em tempos. Egos a parte, este parece ser um assunto que não se resolverá nem tão cedo. Afinal, estamos em uma fase de aprimoramento, de evolução enquanto sociedade. Resta esperar que esta subversão proposta pela cultura de fãs seja suficiente para que muitos possam abrir a mente para novas perspectivas. Aliás, se não fizermos isso, é capaz que não sobrevivamos.
–
Imagem: Pexels / Jose Antonio Gallego Vásquez.
–
Raquel da Cruz é mestranda do PPGCOM / Unesp e bacharela em Comunicação Social – Relações Públicas pela UEL. Concluiu sua especialização pelo GESTCORP da ECA-USP. Tem interesse em assuntos que envolvem relações públicas, celebridades, fãs e letramento transmídia.