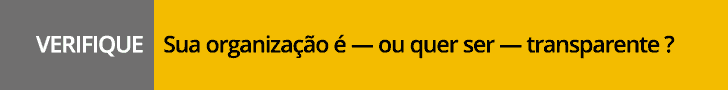Desde que comecei a organizar um curso que vai acontecer em novembro me vi às voltas com a pergunta ‘Psicanálise, para quem?’. Além de ser ponto de partida para o curso, ela é efeito de muitos outros questionamentos a respeito do lugar da Psicanálise na cultura e no campo social atual. E, quando digo atual, me refiro aos debates relativos a uma Psicanálise que não esteja alheia às discussões sobre identidade, raça e classe.
É desejável que de tempos em tempos os psicanalistas retomem questões sobre a prática da Psicanálise, assim como Lacan propôs retomar os conceitos fundamentais no ano de 1964, com o intuito de localizá-la no campo da ciência, numa empreitada que visava o distanciamento do discurso religioso.
Quando perguntamos para quem é a Psicanálise abrimos para outras questões – fundamentais – como a própria formação dos analistas. A Psicanálise continua uma prática elitizada? Quem tem acesso? Quem consegue manter uma formação de analista? O que fica de fora nessa equação? Perguntas que ficarão para o curso, mas que apresentam respingos nesse texto quando desloco para outra pergunta: Cidades para quem?
Esse ‘quem’ pode estar representado nas crianças, mulheres, homens, idosos, ricos, pobres, brancos, negros, indígenas, pessoas sem moradia ou, simplesmente, pessoas. Acredite: há cidades que não são feitas para pessoas.
Leslie Kern, autora do livro ‘The feminist city: claiming space in man-made world’, apresenta um olhar para a cidade retomando pontos ‘óbvios’ como ela mesma disse em um evento promovido pela Columbia University. Mesmo sendo óbvios, ela disse que ainda assim são importantes de serem debatidos. Ela afirma que as cidades não são construídas para acomodar corpos femininos, necessidades femininas, nem seus desejos.
Com a pandemia ficou mais evidente a desvalorização dos serviços de cuidado (ainda exercido por mulheres, em sua maioria), como creches, escolas etc. Estes serviços têm se mostrado como peça fundamental para que a economia continue funcionando. Kern também falou do esquecimento por parte dos gestores e urbanistas de que os habitantes da cidade têm um corpo, dando o exemplo da falta de banheiros nos espaços públicos ou trocadores para cuidadores de crianças pequenas. Além disso, a autora fez um mapeamento da cidade a partir de uma perspectiva feminista que contém em sua lógica a construção de espaços mais seguros para todos.
A partir dos tópicos trazidos por Kern podemos nos questionar o lugar (ou o sem lugar) do campo do feminino na cidade, campo ao qual está tanto do lado das mulheres, como dos homens. Nesse sentido, vamos abrindo para outros campos e comunidades que compõem a cidade e sua diferentes demandas.
A arquiteta e urbanista Joice Berth, em uma entrevista (1), dá destaque para a segregação presente desde o planejamento das cidades: ‘As cidades não foram projetadas para a diversidade, para a pluralidade. Nosso espaço foi uma consequência da divisão colonial que já existia. A lógica casa grande/senzala foi reproduzida no desenho das cidades, onde há alta concentração de pessoas brancas num determinado lugar e negros em outro’. Berth aponta para o que se repete na construção dos espaços até os dias de hoje. Há um convite para a formulação de questões sobre a manutenção dessa e de outras lógicas na cidade.
Formular uma pergunta é poder fazer enigma de signos, símbolos e discursos que atravessam os espaços. Por que fazer deles um enigma? Pois a partir do enigma é dada a possibilidade para o diálogo e debate do que até então se repete inconscientemente de forma sintomática. É também a possibilidade de ocupar uma posição de ‘não-saber’, posição esta que favorece a escuta do outro e a localizar o desejo.
Ao andar por Manhattan é fácil notar a presença do que se chama de uma ‘arquitetura hostil’ na cidade. Não, dessa vez não me refiro aos arranha-céus espelhados. Mas à instalação de objetos em espaços públicos que repelem justamente o público, as pessoas.
Barras de metal pontiagudas são colocadas em muretas (evitando que alguém possa encostar/sentar para descansar) ou, ainda, ‘separadores’ instalados em bancos nos parques para evitar que pessoas se deitem. Ou seja, trata-se de uma arquitetura que afasta os habitantes com o argumento de manter a ordem e evitar que pessoas ‘indesejáveis’ fiquem nesses locais. Aliás, os indesejáveis são barrados de uma posição desejante na cidade.
Culpar estas pessoas pela ‘desordem’ é a mesma lógica do discurso que culpa o carteiro pela má notícia. Se cada vez mais pessoas precisam dos bancos dos parques públicos para dormir, será que essa condição não é produto da sucessão de erros em políticas públicas? Dependendo da cidade, é possível ouvir falas obscenas, como a de que estas pessoas gostam e sentem prazer em estar nas ruas. Alguns desses objetos mencionados podem passar despercebidos no cotidiano citadino. São elementos (signos) que reforçam a hegemonia de discursos e lógicas, por exemplo, segregacionistas. Uma barra de metal no banco do parque público não deve passar despercebida aos habitantes. Se isto já foi incorporado à paisagem urbana sem causar desconforto, é sinal de que não se faz mais enigma sobre a cidade.
Uma matéria no jornal ‘The New York Times’ (2) trouxe aspectos dessa arquitetura hostil nada convidativa: ‘Nós construímos barreiras e muros em volta dos prédios e dos espaços públicos para manter longe a diversidade de pessoas que compõem a vida urbana’.
Ao fazer enigma da cidade abre-se o espaço para o equívoco relativo aos discursos vigentes, por exemplo, nesses objetos (signos). Enquanto não se faz enigma deles, permanecem como signos, ou seja, estáticos, reproduzindo inclusive violência e opressão. No entanto, há o uso de símbolos para uma função subversiva.
Recentemente foi inaugurada uma estátua que resgata a ideia do símbolo como subversão que apresenta outro final para o mito de Medusa. O artista Luciano Garbati nomeou como ‘Medusa com a cabeça de Perseu’ em contraposição a ‘Perseu com a cabeça de Medusa’, de Benvenuto Cellini.
A escolha do local não foi aleatória. A estátua está localizada próxima ao tribunal – em Manhattan – que julga crimes relacionados à violência contra as mulheres. A estátua representa para o escultor o triunfo das vítimas de abuso sexual, promovendo uma subversão a respeito da história de Medusa que, depois de ser estuprada por Poseidon no Templo de Atena, tem seu cabelo transformado em cobras e sua cabeça decapitada por Perseu. O mito propaga a ideia de que as mulheres violentadas são culpadas. A estátua ao fazer enigma sobre o mito, subverte-o revelando seu tom machista.
Resgatar perguntas como ‘Cidades para quem?’ gera desconforto mas também possibilita a cidade a não permanecer em um gozo produzido por ela. A cidade é para quem constrói perguntas sobre como ocupá-la. O psicanalista se questionar sobre a prática da Psicanálise hoje é tão legítimo quanto um habitante se perguntar sobre sua própria cidade. Entre mitos e verdades, insistimos na aposta de que o sujeito na cidade pode fazer enigma a respeito daquilo que lhe parece estável e sólido. Afinal, alguém já disse que tudo que é sólido também se desmancha no ar.
–
(2) https://www.nytimes.com/2019/11/08/nyregion/hostile-architecture-nyc.html
–
Mariana Anconi é psicóloga e psicanalista. Mestre em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Psicopatologia e Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP). Idealizadora do projeto itinerante ‘Diálogos na Cidade: Arquitetura, Cultura e Psicanálise’. Mora e trabalha em Nova York – EUA.